CUBA, A ÚLTIMA DAS ILUSÕES
«Todas as promessas da revolução cubana se desvaneceram numa realidade sombria. O alinhamento com
o mundo comunista impôs aos cubanos uma ditadura sem concessões que normalmente não é apresentada
nos prospectos das agências de viagens.»
As ditaduras caracterizam-se pela encenação
do poder, promovendo uma adesão
simbólica aos valores do regime e uma
aparente unidade em torno da sua
direcção política. O fascínio militarista
que compôs a matriz de várias ditaduras, para além
de constituir uma força interna disciplinadora, inserese
justamente nessa teatralização do poder. Em 1989,
por exemplo, as cúpulas da República Democrática
Alemã (RDA) comemoravam o 40º aniversário do
Estado comunista com um espantoso desfile de força
bélica e Erich Honecker, o seu líder, celebrava a continuidade
da RDA por várias décadas. Na realidade, um
mês depois, caía o Muro de Berlim e com ele a RDA.
A encenação é um instável equilíbrio e os ditadores
sabem-no. Durante a década de 1990, as ditaduras
de inspiração comunista que não cederam com o
colapso da União Soviética foram substituindo as
gastas paradas militares pela farsa do voto. A simulação
controlada de um acto democrático transformouse
no guião de vários regimes autoritários e Cuba,
uma das mais longas ditaduras do mundo, não foi
excepção.
No passado dia 20 de Janeiro, cerca de oito milhões
de cubanos foram obrigados a ir às urnas para «votar
». Sem partidos, imprensa, ou pensamento livre, os
cubanos foram actores involuntários da ditadura que
os oprime e limitaram-se a confirmar os 614 candidatos
que se apresentaram para preencher justamente
614 vagas num Parlamento de sentido único. A
liberdade é um bem tão precioso que, aparentemente,
até as ditaduras investem em caricaturas eleitorais e
comentam a evolução da «votação» como se houvesse
de facto alguma possibilidade de baralhar as
pré-condições do resultado final. Como chegaram os
cubanos a este ponto?
Num mundo dividido pela Guerra Fria, Fidel
Castro e um conjunto de guerrilheiros
desceram da Sierra Maestra e entraram em
Havana há quase cinquenta anos, conquistando
logo aí o imaginário de parte
da esquerda radical que já então divergia
da linha soviética e teria um papel importante
nos protestos anti-disciplinares da
década de 1960. Contrariamente aos ortodoxos
dirigentes da URSS e dos partidos
comunistas que gravitavam na sua órbita,
Fidel Castro liderava uma revolução sem rugas
que substituía o vermelho marxista-leninista pelo
verde-azeitona dos trópicos. Para mais, a 90 milhas
de distância dos EUA e para derrubar um governo
corrupto e autoritário na ilha. A simbologia inicial
da revolução cubana, para a qual muito contribuiu o
mito esfíngico de Che Guevara, manteve-se como um
filtro duradouro que ainda hoje faz com que muitos
olhem para Cuba com relativa condescendência e
como fonte de utopia, calor e festa. Tudo ali soava diferente
do que então se conhecia na América Latina,
de Trujillo a Pinilla, e essa raiz da revolução cubana
permitiu um constante
relativismo perante o
Estado policial e de partido
único que entretanto
se consolidou.
Todas as promessas da
revolução cubana se
desvaneceram numa
realidade sombria. O
alinhamento com o
mundo comunista
impôs aos cubanos uma
ditadura sem concessões
que normalmente não é
apresentada nos prospectos
das agências de
viagens. Segundo dados
da Amnistia Internacional,
Human Rights Watch e
Repórteres sem Fronteiras,
o regime de Fidel Castro
já fuzilou mais de 17.000
pessoas nas suas quase
cinco décadas de poder absoluto e mais de 100.000
foram enviadas para prisões e campos de reeducação.
A perseguição abate-se sobre intelectuais, activistas
da democracia onde se incluem inúmeros socialistas,
sindicalistas, homossexuais e, de uma forma geral,
qualquer cubano que ouse pensar de forma diferente
do entendimento do mundo que tem o governo da
ilha desde a década de 1950 do século XX. É por isso
que muitos empreendem uma trágica viagem rumo
ao exílio, lançando-se a um mar infestado de tubarões
como a derradeira oportunidade de escaparem à
condenação arbitrária a que foram sujeitos.
A economia cubana sobrevive nos escombros do desmoronamento
do Muro de Berlim e da asfixia
autoritária. A pobreza é condição geral. O
salário mínimo é de aproximadamente dez
dólares. Um quilo de carne custa dois. Os
cubanos vivem numa ilha-prisão, com
muros de água e não cimento. Praias,
hotéis, restaurantes e táxis estatais com
ar condicionado são em dólares e para
os turistas, enquanto a Cuba dos pesos,
que raramente esbarra com os visitantes
estrangeiros, é para os cubanos. A escritora
cubana Karla Suaréz afirmou que em Cuba
se morre de nostalgia e não é difícil perceber porquê,
num lugar onde a normalização censória da vida
colectiva é significado de «igualdade» e de negação da
individualidade de cada um, das suas diferenças e da
pluralidade entre todos.
A degenerescência física de Fidel Castro ditará, muito
provavelmente, o fim do regime. Foi morrendo aos
poucos, como todos os revolucionários e todas as revoluções.
Cuba permanecerá como uma das últimas
ilusões do século XX a que a esquerda democrática
nunca deixou de resistir sem teorias de compensação:
de que vale um sistema de saúde sem um sistema
pluralista, sem a capacidade de cada um defender as
suas ideias e não ser preso por elas? De que vale um
sistema de ensino quando a educação reproduz os
princípios irrevogáveis da ditadura, quando não é
possível comprar os livros e os jornais que se entenda,
quando a Internet é controlada pela polícia política?
Tudo dúvidas retóricas, obviamente, que os cubanos
já têm há demasiado tempo.
Em 2003, quando muitos já acreditavam numa
evolução democrática da situação em Cuba com o
Partido Comunista no poder, assistimos à madrugada
da «Primavera Negra», quando Fidel Castro aproveitou
as atenções mundiais sobre o Iraque para lançar
uma ofensiva sobre a dissidência: prendeu 75 escritores,
activistas políticos e jornalistas. Vários foram
sentenciados sumariamente a penas até 30 anos de
prisão por «conspiração». Logo depois, três cubanos
que tentaram fugir do país foram colocados em frente
ao pelotão de fuzilamento. Cuba, para lá dos mitos, é
sobretudo essa tirania.
Em 1962, discursando na parte ocidental do Muro
construído pela Alemanha de Leste e que Erich
Honecker julgava indestrutível, John F. Kennedy teve
uma passagem notável e que serviu para sinalizar a
intervenção da esquerda democrática durante os anos
de chumbo da Guerra Fria: «Freedom has many
difficulties and democracy is not perfect. But we
have never had to put a wall up to keep our people
in - to prevent them from leaving us». Numa
altura em que o muro da ditadura cubana parece estar
a entrar no seu capítulo final, mantenhamos essa
defesa inegociável da democracia como a única possibilidade
de entender a intervenção política e o bem
comum. Mais cedo ou mais tarde, os cubanos estarão
aí para lembrá-lo e exigir o nosso exemplo.
«Todas as promessas da revolução cubana se desvaneceram numa realidade sombria. O alinhamento com
o mundo comunista impôs aos cubanos uma ditadura sem concessões que normalmente não é apresentada
nos prospectos das agências de viagens.»
por Tiago Barbosa Ribeiro t.b.ribeiro@sapo.pt IN jOVEM sOCIALISTA








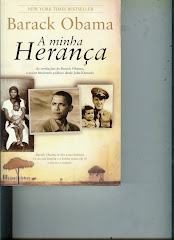


1 comentário:
CARO CARAMARA TIAGO BARBOSA RIBEIRO
TAMBÉM...LI ESTE ARTIGO que lhe transcrevo na integra!!!
medite!!!
eu já o fiz...
----------------------------------
Uma imensa tristeza
Rui Bebiano
Pré-publicação de artigo do número 5 da Periférica
“Silencio, que están durmiendo
los nardos y las azucenas.
No quiero que sepan mis penas
porque si me ven llorando morirán.”
(De Silencio, bolero de Rafael Hernández cantado por Ibrahim Ferrer)
Stalin Martínez, irmão de Lenin e Lenina Martínez, estomatologista no romance Conta-me coisas de Cuba, do exilado Jesus Díaz, viveu um drama que o levaria ao desespero e à fuga da ilha. Pepa, a velha ventoinha Westinghouse, avariara-se irremediavelmente, deixando-o, sem dinheiro ou influências para conseguir uma nova, confinado ao calor constante, insuportável, de um quarto solitário em La Habana.
Perturba a variedade de metáforas negativas usadas por muitos escritores cubanos para se referirem ao habitat que conformou as suas vidas, deslocando o mal-estar para relatos aparentemente laterais.
De forma estranha para o leitor mal habituado a documentários com trilha sonora de rumbas e som, à cor do rum Bacardi misturado com cola, às manifestações da Plaza de la Revolución, aos discursos XXL de Fidel, os exemplos sucedem-se.
Karla Suárez insiste no silêncio como veículo expressivo e como processo de compreensão do mundo em redor (Os Rostos do Silêncio).
Zoe Valdés aborda a sobrevivência esgotante, carente de horizontes visíveis, daqueles que não procuraram o exílio (O Nada Quotidiano).
Pedro Juan Gutiérrez transforma o sexo obsessivo numa cadência que exige grande concentração de energia, que esgota, não deixando espaço para o pensamento elaborado e para a vida social (na Trilogia Suja de Havana, sobretudo).
Daína Chaviano, ergue universos mágicos numa cidade arruinada, sobre vidas com senhas de racionamento, filas nos armazéns, polícia política, ininterrupta propaganda oficial (no ciclo La Habana Oculta).
Nem os mais obstinados na negação do evidente podem ignorar a forma como o relato ficcional da Cuba contemporânea – o relato do dissídio, naturalmente – descarta a vivência colectiva de praças e reuniões, a confiança no próximo, a presença no quotidiano das metas revolucionárias visíveis em outdoors de propaganda do regime e folhetos turísticos.
Diferente é Cuba: Imagens & Testemunhos (2002), álbum ilustrado dos portugueses João Vilar e Alfredo Duarte Costa.
Alinham-se fotografias e relatos do que da ilha, da sua vida e do seu futuro pensam (ou dizem) figuras como Maria Barroso, Jorge Sampaio, Luís Represas, Rui Veloso, Américo Amorim, Pedro Lamy, Miguel Urbano Rodrigues, Edite Estrela, Eusébio, entre outros nacionais e alguns estrangeiros inseridos na conexão cubana (como o cardeal D. Jaime Ortega ou a inevitável Aleida Guevara).
As imagens são belas, revelando tipos únicos na paisagem luminosa em cinemascope, numa espécie de pobreza limpa e honrada, numa decadência de charme que concebo simpática para as agências de viagens.
Mas, se excluirmos o riso das crianças, pressente-se a tristeza nos rostos tensos, na ausência de multidões, na falha de diversidade cultural, no eclipse dessa “juventude rebelde” à qual o regime associa ainda as efígies, com quatro décadas de exposição, dos três C matriciais: Cienfuegos, Che, Castro...
Os textos escolhidos resvalam para o lugar-comum, para o elogio em papel de cenário, numa espécie de justificação pela negativa – a crítica do bloqueio americano, a capacidade de resistência do regime, o bricolage como arma dos necessitados – daquilo que, fora dos meios de comunicação controlados, é visivelmente um país sem marca de projectos mobilizadores.
Vivendo um quotidiano que apenas para os estrangeiros, e mais moderadamente para alguns naturais sitiados pela propaganda, parece marcado ainda pelo júbilo.
Pedro Lamy, o piloto de automóveis, absolutamente fascinado, como seria de prever, pelos Pontiac e Chevrolet “que se mantêm como novos”, fala dessa gente que aos seus olhos “vive num constante momento de alegria e boa disposição”, lembrando aos menos benévolos o elogio, presente na fraseologia salazarista, de um povo “contente, a dançar e a cantar, dando lições de optimismo”.
Miguel Urbano Rodrigues, um dos históricos da mais impoluta ortodoxia comunista lusitana, adensa a ideia, tratando os cubanos como semi-heróis homéricos, capazes, na paisagem devastadora de uma “crise global da civilização” – O tempora! O mores! O perestroika! – de afirmarem uma inigualável “atmosfera marcada por intensa alegria de viver”.
Olhando à distância, numa perspectiva estritamente materialista, limitativa do humano, que outro sentimento deveríamos presumir num povo que conhece a inflação próxima do zero, a quase completa literacia, um sistema de saúde gratuito e razoavelmente avançado?
Que outra sensação poderia legar ao turista o perfume adocicado dos charutos, o contacto caloroso das pessoas, a sensualidade imediata dos corpos?
E que impressão nos deixa a omnipresente música, tão característica da pátria caribenha comum, esquecida do exterior depois da gloriosa fase dos anos 50?
A mesma música que nos anos mais recentes, como resultado da bem-sucedida cruzada ressurrecta de Ry Cooder na companhia dos anciãos catitas do Buena Vista Social Club, passou a dar a volta ao mundo todos os dias.
Elementos dispersos de uma mitografia da felicidade erguida ainda sobre uma outra fonte.
Esta deriva, de forma remanescente, do lugar cimeiro que a Cuba revolucionária ocupou, em particular na Europa e América Latina, no imaginário e na iconografia da esquerda ocidental.
Depois da tomada do poder pelos insurrectos verde-oliva da Sierra Maestra, na noite de S. Silvestre de 58, tropos que integravam a sua gramática fundadora – revolução, rebeldia, anti-imperialismo, colectivização, socialismo – foram afixados nas paredes, proclamados diariamente, ampliando uma simpatia mais imediata do que aquela que se poderia sentir pelos distantes, previsíveis e nada modelares aparatchiks de Moscovo.
E ainda que Cuba tenha rapidamente começado a copiar o modelo centralista das "democracias populares", tal não fez diminuir, mesmo na área da social-democracia, sobretudo entre os intelectuais e uma certa juventude, a simpatia por um regime apresentado como dotado de um fulgor impossível de vislumbrar nos desfiles rituais diante da tribuna do Kremlin.
Imagem ampliada ainda pelo efeito carismático de políticos sem rugas, possuidores de um estilo novo, directo, rebeldes com causa desprovidos dos maneirismos e da linguagem estereotipada dos estadistas da época.
Foi essa a atraente Cuba que, entre muitos outros jovens e menos jovens (Sartre, Beauvoir, e alguns mais) de todo o mundo, procurou Annie, a romântica única filha do major Silva Pais, último director da PIDE, “portuguesa na revolução cubana” recordada recentemente no romance-livro de memórias de José Fernandes Fafe.
No entanto, nada disto transparece na palavra dos actuais escritores e exilados, para os quais a expressão da tristeza é inevitável.
Guillermo Cabrera Infante, ex-companheiro de Fidel, do qual após o derrube de Batista rapidamente se distanciará, experimentou, por isso, a necessidade de escrever a crónica pessoal de uma cidade aberta, sonora, plural, que fora a da sua infância, adolescência e parte da idade madura (Havana para um Infante Defunto).
A descrição da opressão, feita pelos numerosos dissidentes – nem todos iguais, nem todos criaturas da CIA – já fazia notar esse distanciamento.
Lê-se Antes que Anoiteça, autobiografia impressionante, indesmentível e indesmentida, do suicidado Reynaldo Arenas, guerrilheiro castrista aos quinze anos de idade, homossexual assumido, e percebe-se como o regime procurou conter, normalizar, cito da introdução de António Mega Ferreira à edição lusa, “a criatividade sem limites, o sentido do risco e a paixão da desordem, a busca da beleza e o frisson da perdição”, tudo fazendo para submeter os comportamentos culturais e o comum viver às “metas da Revolução” definidas, sem recurso algum, em estreitíssimo conclave.
No conto “Delito de dançar o Chá-Chá-Chá” (incluído na colectânea É Tudo um Jogo de Espelhos), é ainda Cabrera Infante que coloca uma poderosa interrogação à volta de uma futilidade:
que fazer socialmente com esta dança que teve “a desgraça de o seu nascimento coincidir com a ditadura de Batista” e, por isso, foi culpada de uma alegria ilegítima e decadente, “como a poesia hermética, como o jazz”?
A revolução distinguirá por tempo demais – aproxima-se agora do meio século de sentido único – o bom do mau, o justo do injusto, o conforme do disforme, e, também por isso, toda a diferença em relação ao padrão de perfeição designado será condenada.
Principalmente se esta remeter para algo que tenha ver com o mundo capitalista em redor, embora também, por um acaso, com o território do humano.
Não surpreende assim o considerável número de intelectuais – jornalistas, escritores, professores, artistas plásticos, cineastas, fotógrafos, músicos, estudantes – que se têm envolvido com o universo da oposição.
Ou que fazem por viver a sua vida à margem dos favores e das sugestões do regime.
A grande vaga repressiva que avançou agora, enquanto o mundo inteiro virava o olhar para o Iraque, acompanhada, do habitual e lúgubre cortejo de delatores e de arrependidos, acaba de empurrar para a proscrição, o cárcere ou o paredão um conjunto de pessoas, por certo diferentes, por certo com diferentes motivações e maneiras de agir, unidas pela recusa do único, fonte dessa imensa tristeza produzida pela ausência de espaço para o exercício da diversidade.
E nem mesmo um escritor em relativa paz com o governo, como Lisandro Otero, Prémio Nacional da Literatura de Cuba de 2003, se eximiu, no discurso pronunciado quando da entrega do galardão, de deixar implícita essa carência, essa insatisfação:
“Se não se tomam medidas restauradoras a paixão converte-se em rancor, o entusiasmo torna-se indiferença, a fé é destruída pelo cepticismo. Não obstante, há que continuar alentando sonhos”. Falava de quê, Otero?
“Morre-se de nostalgia em Cuba”, afirmou Karla Suárez há pouco mais de um ano, em entrevista publicada pelo Diário de Notícias.
É provável que sim.
Não a nostalgia do passado pré-revolucionário, sobrevivente na memória da geração que o conheceu ou nos manuais de história concebidos como hagiografias.
Mas, é legítimo suspeitá-lo, a dessa alegria perdida que apenas a liberdade sem adjectivos, incandescente, pode redimir.
26-04-2003
-----------------------------------
Enviar um comentário