Obama: O discurso de vitória
05.11.2008 - 20h24
Boa noite, Chicago. Se ainda houver alguém que duvida que a América é o lugar onde todas as coisas são possíveis, que questiona se o sonho dos nossos fundadores ainda está vivo, que ainda duvida do poder da nossa democracia, teve esta noite a sua resposta.É a resposta dada pelas filas de voto que se estendiam em torno de escolas e igrejas em números que esta nação jamais vira, por pessoas que esperaram três e quatro horas, muitas pela primeira vez na sua vida, porque acreditavam que desta vez tinha de ser diferente, que as suas vozes poderiam fazer essa diferença.É a resposta dada por jovens e velhos, ricos e pobres, democratas e republicanos, negros, brancos, hispânicos, asiáticos, nativos americanos, homossexuais, heterossexuais, pessoas com deficiências e pessoas saudáveis. Americanos que enviaram uma mensagem ao mundo, a de que nunca fomos apenas um conjunto de indivíduos ou um conjunto de Estados vermelhos e azuis.Somos e sempre seremos os Estados Unidos da América.É a resposta que levou aqueles, a quem foi dito durante tanto tempo e por tantos para serem cínicos, temerosos e hesitantes quanto àquilo que podemos alcançar, a porem as suas mãos no arco da História e a dobrá-lo uma vez mais em direcção à esperança num novo dia.Há muito que isto se anunciava mas esta noite, devido àquilo que fizemos neste dia, nesta eleição, neste momento definidor, a mudança chegou à América.Há pouco recebi um telefonema extraordinariamente amável do Senador McCain.O Senador McCain lutou longa e arduamente nesta campanha. E lutou ainda mais longa e arduamente pelo país que ama. Fez sacrifícios pela América que muitos de nós não conseguimos sequer imaginar. Estamos hoje melhor devido aos serviços prestados por este líder corajoso e altruísta.Felicito-o e felicito a governadora Palin por tudo aquilo que alcançaram. Espero vir a trabalhar com eles para renovar a promessa desta nação nos próximos meses.Quero agradecer ao meu parceiro neste percurso, um homem que fez campanha com o seu coração e falou pelos homens e mulheres que cresceram com ele nas ruas de Scranton e viajaram com ele no comboio para Delaware, o vice-presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden.E eu não estaria aqui hoje sem o inabalável apoio da minha melhor amiga dos últimos 16 anos, a pedra angular da nossa família, o amor da minha vida, a próxima Primeira Dama do país, Michelle Obama.Sasha e Malia, amo-vos mais do que poderão imaginar. E merecem o novo cachorro que virá connosco para a nova Casa Branca.E embora ela já não esteja entre nós, sei que a minha avó está a observar-me, juntamente com a família que fez de mim aquilo que sou. Tenho saudades deles esta noite. Reconheço que a minha dívida para com eles não tem limites.Para a minha irmã Maya, a minha irmã Alma, todos os meus outros irmãos e irmãs, desejo agradecer-vos todo o apoio que me deram. Estou-vos muito grato.E ao meu director de campanha, David Plouffe, o discreto herói desta campanha, que, na minha opinião, concebeu a melhor campanha política da história dos Estados Unidos da América.E ao meu director de estratégia, David Axelrod, que me tem acompanhado em todas as fases do meu percurso.Para a melhor equipa alguma vez reunida na história da política: tornaram isto possível e estou-vos eternamente gratos por aquilo que sacrificaram para o conseguir.Mas acima de tudo nunca esquecerei a quem pertence verdadeiramente esta vitória. Ela pertence-vos a vós. Pertence-vos a vós.Nunca fui o candidato mais provável para este cargo. Não começámos com muito dinheiro nem muitos apoios. A nossa campanha não foi delineada nos salões de Washington. Começou nos pátios de Des Moines, em salas de estar de Concord e nos alpendres de Charleston. Foi construída por homens e mulheres trabalhadores que, das suas magras economias, retiraram 5 e 10 e 20 dólares para a causa.Foi sendo fortalecida pelos jovens que rejeitavam o mito da apatia da sua geração e deixaram as suas casas e famílias em troca de empregos que ofereciam pouco dinheiro e ainda menos sono.Foi sendo fortalecida por pessoas menos jovens, que enfrentaram um frio terrível e um calor sufocante para irem bater às portas de perfeitos estranhos, e pelos milhões de americanos que se ofereceram como voluntários, se organizaram e provaram que mais de dois séculos depois, um governo do povo, pelo povo e para o povo não desaparecera da Terra.Esta vitória é vossa.E sei que não fizeram isto apenas para vencer uma eleição. E sei que não o fizeram por mim.Fizeram-no porque compreendem a enormidade da tarefa que nos espera. Porque enquanto estamos aqui a comemorar, sabemos que os desafios que o amanhã trará são os maiores da nossa vida – duas guerras, uma planeta ameaçado, a pior crise financeira desde há um século.Enquanto estamos aqui esta noite, sabemos que há americanos corajosos a acordarem nos desertos do Iraque e nas montanhas do Afeganistão para arriscarem as suas vidas por nós.Há mães e pais que se mantêm acordados depois de os seus filhos adormecerem a interrogarem-se sobre como irão amortizar a hipoteca, pagar as contas do médico ou poupar o suficiente para pagar os estudos universitários dos filhos.Há novas energias para aproveitar, novos empregos para serem criados, novas escolas para construir, ameaças para enfrentar e alianças para reparar.O caminho à nossa frente vai ser longo. A subida vai ser íngreme. Podemos não chegar lá num ano ou mesmo numa legislatura. Mas América, nunca estive tão esperançoso como nesta noite em como chegaremos lá.Prometo-vos. Nós, enquanto povo, chegaremos lá.Haverá reveses e falsas partidas. Há muitos que não concordarão com todas as decisões ou políticas que eu tomar como presidente. E sabemos que o governo não consegue solucionar todos os problemas.Mas serei sempre honesto para convosco sobre os desafios que enfrentarmos. Ouvir-vos-ei, especialmente quando discordarmos. E, acima de tudo, pedir-vos-ei que adiram à tarefa de refazer esta nação da única forma como tem sido feita na América desde há 221 anos – pedaço a pedaço, tijolo a tijolo, e com mãos calejadas.Aquilo que começou há 21 meses no rigor do Inverno não pode acabar nesta noite de Outono.Somente a vitória não constitui a mudança que pretendemos. É apenas a nossa oportunidade de efectuar essa mudança. E isso não poderá acontecer se voltarmos à forma como as coisas estavam.Não poderá acontecer sem vós, sem um novo espírito de empenho, um novo espírito de sacrifício.Convoquemos então um novo espírito de patriotismo, de responsabilidade, em que cada um de nós resolve deitar as mãos à obra e trabalhar mais esforçadamente, cuidando não só de nós mas de todos.Recordemos que, se esta crise financeira nos ensinou alguma coisa, é que não podemos ter uma Wall Street florescente quando as Main Street sofrem.Neste país, erguemo-nos ou caímos como uma nação, como um povo. Resistamos à tentação de retomar o partidarismo, a mesquinhez e a imaturidade que há tanto tempo envenenam a nossa política.Recordemos que foi um homem deste Estado que, pela primeira vez, transportou o estandarte do Partido Republicano até à Casa Branca, um partido fundado em valores de independência, liberdade individual e unidade nacional.São valores que todos nós partilhamos. E embora o Partido Democrata tenha alcançado uma grande vitória esta noite, fazemo-lo com humildade e determinação para sarar as divergências que têm atrasado o nosso progresso.Como Lincoln disse a uma nação muito mais dividida do que a nossa, nós não somos inimigos mas amigos. Embora as relações possam estar tensas, não devem quebrar os nossos laços afectivos.E àqueles americanos cujo apoio ainda terei de merecer, posso não ter conquistado o vosso voto esta noite, mas ouço as vossas vozes. Preciso da vossa ajuda. E serei igualmente o vosso Presidente.E a todos os que nos observam esta noite para lá das nossas costas, em parlamentos e palácios, àqueles que estão reunidos em torno de rádios em cantos esquecidos do mundo, as nossas histórias são únicas mas o nosso destino é comum, e uma nova era de liderança americana está prestes a começar.Aos que querem destruir o mundo: derrotar-vos-emos. Aos que procuram a paz e a segurança: apoiar-vos-emos. E a todos aqueles que se interrogavam sobre se o farol da América ainda brilha com a mesma intensidade: esta noite provámos novamente que a verdadeira força da nossa nação não provém do poder das nossas armas ou da escala da nossa riqueza, mas da força duradoura dos nossos ideais: democracia, liberdade, oportunidade e uma esperança inabalável.É este o verdadeiro génio da América: que a América pode mudar. A nossa união pode ser aperfeiçoada. O que já alcançámos dá-nos esperança para aquilo que podemos e devemos alcançar amanhã.Esta eleição contou com muitas estreias e histórias de que se irá falar durante várias gerações. Mas aquela em que estou a pensar esta noite é sobre uma mulher que depositou o seu voto em Atlanta. Ela é muito parecida com os milhões de pessoas que aguardaram a sua vez para fazer ouvir a sua voz nestas eleições à excepção de uma coisa: Ann Nixon Cooper tem 106 anos.Ela nasceu apenas uma geração depois da escravatura, numa época em que não havia automóveis nas estradas nem aviões no céu; em que uma pessoa como ela não podia votar por duas razões – porque era mulher e por causa da cor da sua pele.E esta noite penso em tudo o que ela viu ao longo do seu século de vida na América – a angústia e a esperança; a luta e o progresso; as alturas em que nos foi dito que não podíamos e as pessoas que não desistiram do credo americano: Sim, podemos.Numa época em que as vozes das mulheres eram silenciadas e as suas esperanças destruídas, ela viveu o suficiente para se erguer, falar e votar. Sim, podemos.Quando havia desespero e depressão em todo o país, ela viu uma nação vencer o seu próprio medo com um New Deal, novos empregos, e um novo sentimento de um objectivo em comum. Sim, podemos.Quando as bombas caíam no nosso porto e a tirania ameaçava o mundo, ela esteve ali para testemunhar uma geração que alcançou a grandeza e salvou uma democracia. Sim, podemos.Ela viu os autocarros em Montgomery, as mangueiras em Birmingham, uma ponte em Selma, e um pregador de Atlanta que dizia às pessoas que elas conseguiriam triunfar. Sim, podemos.Um homem pisou a Lua, um muro caiu em Berlim, um mundo ficou ligado pela nossa ciência e imaginação.E este ano, nestas eleições, ela tocou com o seu dedo num ecrã e votou, porque ao fim de 106 anos na América, tendo atravessado as horas mais felizes e as horas mais sombrias, ela sabe como a América pode mudar.Sim, podemos.América, percorremos um longo caminho. Vimos tanto. Mas ainda há muito mais para fazer. Por isso, esta noite, perguntemos a nós próprios – se os nossos filhos viverem até ao próximo século, se as minhas filhas tiverem a sorte de viver tantos anos como Ann Nixon Cooper, que mudança é que verão? Que progressos teremos nós feito?Esta é a nossa oportunidade de responder a essa chamada. Este é o nosso momento.Este é o nosso tempo para pôr o nosso povo de novo a trabalhar e abrir portas de oportunidade para as nossas crianças; para restaurar a prosperidade e promover a causa da paz; para recuperar o sonho americano e reafirmar aquela verdade fundamental de que somos um só feito de muitos e que, enquanto respirarmos, temos esperança. E quando nos confrontarmos com cinismo e dúvidas e com aqueles que nos dizem que não podemos, responderemos com o credo intemporal que condensa o espírito de um povo: Sim, podemos.Muito obrigado. Deus vos abençoe. E Deus abençoe os Estados Unidos da América








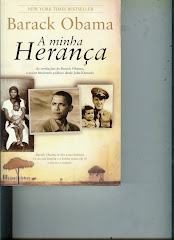



12 comentários:
Não vou tecer nenhumas considerações sobre a CLASSE desta nossa “E” ELISA FERREIRA.
SÓ POSSO DIZER QUE ESTA SENHORA É UMA ORQUESTRA COMPLETA.
E por tal motivo, sobre as FORTES DUVIDAS que ela manifesta, vou pedir a V. Exa. Sr. Administrador que POST a partir de amanhã, não me perguntes como, porque não sei, (telefona ao Carlos…ou então ao Caro R. da Cunha…) os seguintes TITULOS, SEPARADAMENTE, para poder entrar com os respectivos contributos em cada capitulo.
O NOVO PAPEL DOS ESTADOS NACIONAIS EM ÉPOCA DE GLOBALIZAÇÃO CRESCENTE
DOC I
DOC II
DOC III
DOC IV
DOC V
DOC VI
DOC VII
DOC VIII
DOC IX
DOC X
DOC XI- conclusão
Não são textos de minha autoria (e como gostaria que fossem…) mas para dar um maior contributo, embora com alguma linguagem técnica e que de modo algum podem ser resumidos.
Aguardo pois que V. Exa. Sr. Administrador possa dar saída a isto.
ihihihihih, safaste-te Carlos...
Saudações de esquerda
Olhar atento* militante de esquerda
Bom dia a todos
Como o Administrdor não abriu capitulos ainda vou deixar aqui o primeiro Capitulo.
O texto está escrito em Português-(Brasil)logo não foi alterado e como devem perceber, sem o acordo ortográfico:
No fim de todos os textos informarei o Autor destes documento:
--------------------------
I - Introdução
Nesse alvorecer do século XXI anuncia-se com pleno vigor uma nova lógica global. Ela introduz imensos desafios na prática da política mundial e tem características bem mais complexas que as que vigoravam ao final da guerra fria. Esse novo sistema introduz múltiplos paradoxos e muita imprevisibilidade, pois as regras não são mais relativamente estáveis; modificam-se no curso da partida, confundindo categorias, cenários e dramas.
O presente trabalho busca explicar as causas remotas e imediatas da crise que assolam os Estados Nacionais nessa época de globalização. Conceitua-se primeiramente a formação dos Estados Nacionais na Idade Média, sua consolidação posterior e sua crise em tempos de globalização.
Em seguida, procurar-se-ão as raízes da crise financeira do processo de globalização, atendo-se tão somente ao aspecto econômico-financeiro, que se vive presentemente, buscando suas causas remotas e atuais. Das remotas, uma está em Bretton Woods. Analisar-se-ão, oportunamente, sua gênese e sua falência. A seguir, uma rápida retrospectiva de como anda o processo de globalização no tocante à bolha financeira e a problemática do controle ou não de capitais e da taxa flexível ou fixa de câmbio nos países emergentes. Dar-se-á especial importância à emergência econômica da taxa de câmbio fixa nos países periféricos da Ásia que estão com taxas expressivas de crescimento enquanto os ibero-americanos que adotam taxas flexíveis de câmbio atolam na crise econômica sem crescimento. Além do mais, os países do sudeste asiático adotaram uma estratégia de desenvolvimento baseada num esforço crescente de exportação suportado por taxas cambiais desvalorizadas, controle de capitais e fluxo de capital oficial na forma de acumulação de reservas contra os países centrais.
Numa era de globalização, os Estados perdem a posição de poder mais relevante da ação coletiva; suas fronteiras são desprezadas e eles não conseguem mais regular as regras da ação política como vinham sendo exercidas nos últimos quinhentos anos. O Estado Nação e o Estado de Bem-Estar Social deixam de imperar. Com a liberalização das fronteiras surgem papéis e regras desconhecidas, bem como novas contradições e conflitos. Os exemplos recentes são paradigmáticos: a Espanha decide julgar um ex-presidente chileno por crime contra a humanidade; os EUA inventam o conceito de guerra preventiva e invadem o Iraque à revelia da ONU, torturando prisioneiros; uma corporação transnacional tenta controlar sozinha, o genoma da espécie humana; presidentes de empresas globais, dependentes de softwares desenvolvidos na Índia, tentam evitar que ela se envolva em guerra contra o Paquistão ou que um governante à esquerda assuma o poder e assim por diante. Existem, é claro, alguns aspectos positivos. O antigo jogo nacional-internacional era dominado por regras de direito internacional que partiam do pressuposto de que os Estados poderiam fazer o que quisessem com os seus cidadãos dentro de suas fronteiras. Essas regras tendem a ser contestadas. O paradigma da soberania é posto em xeque, abrindo mais espaço para intervenções humanitárias internacionais; a imunidade diplomática parece mais relativa.
Na intensa e cambiante geometria variável vigorante no novo jogo, o aliado de hoje pode ser o inimigo de amanhã. É o caso típico das alianças Sul-Sul do tipo G-20, acordos temporários tipo Brasil-Índia-África do Sul ou suporte de ONGs internacionais a resistências contra sementes transgênicas. Ainda assim, há blocos de interesse que definem conflitos básicos. Um deles dispõe corporações multinacionais contra movimentos sociais. As grandes corporações - com seu imenso poder - definem a direção dos vetores tecnológicos, a distribuição mundial da produção e os produtos a serem considerados objetos de desejo.
Esse trabalho visa, contudo, ao se ater, num mundo globalizado, estabelecer umas poucas reflexões, basicamente nas áreas bancária e financeira, de como a crise atinge vigorosamente os globalizados. Em suma quem globaliza quem? Então, surgirá a originalidade do trabalho, ou seja, a reflexão de como a crise já vem atingindo, há algum tempo, os globalizadores e como estes têm tentado escondê-la, como se ela fosse apanágio dos globalizados. Haverá, por certo, um diagnóstico para se compreender a crise monetária e financeira mundial que se acentuou nos últimos meses, com uma breve visão sobre esse instrumento fantástico criado no mercado financeiro na década de noventa que se tornou uma faca de dois gumes: os derivativos.. Será visto, também, como a bolha financeira especulativa vem envolvendo a economia real, gerando desemprego, recessão, terrorismo e conseqüentemente crises sociais, políticas e militares. A bem da verdade, quase todas as análises feitas ultimamente, partem do pressuposto de que a crise tem sua raiz na periferia do mundo anglo-saxão, uma ilha de fortaleza financeira inabalável, levando o resto do mundo a naufragar na recessão. A conclusão do artigo é bem outra. Faz-se uma breve abordagem do problema do terrorismo após o 11 de setembro em Nova Iorque, ligando a bolha financeira aos impactos trazidos pelo terrorismo em escala globalizada.
Uma grande contribuição, nos últimos meses, foi o livro de Joseph Stiglitz - A Globalização e seus Malefícios - que apresenta uma série de análises críticas sobre o processo de globalização, o Fundo Monetário Internacional - FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio - OMC etc. Aquilo que alguns articulistas, nos países em desenvolvimento, estavam refletindo e analisando quase que solitariamente, possuem agora um forte aliado nesse Prêmio Nobel de Economia de 2001 e ex-vice-presidente do Banco Mundial.
Aos argumentos, pois.(continua)
Saudações
olhar atento*
A exemplo do texto anterior, este não foi alterado no seu correcto Português (mantendo o seu original)
----------------------------------
II - Formação dos Estados Nacionais
O conceito de Estado não é um conceito universal, mas serve apenas para indicar e descrever uma forma de ordenamento político surgida na Europa a partir do século XIII até os fins do século XVIII ou início do século XIX, na base de pressupostos e motivos específicos da história européia e que após esse período se estendeu - libertando-se, de certa maneira, das suas condições originais e concretas de nascimento - a todo o mundo civilizado.
Durante a Idade Média, a Europa era dominada por dois pólos: o Sacro Império Romano de um lado e, do outro, o Papado. A despeito das rivalidades dinâmicas entre esses dois pólos, a mesma Europa operava sobre um conceito universal: Cristandade Ocidental.
A luta entre as facções desses dois pólos, conhecidos na alta Idade Média como Guelfos e Guibelinos, tornou-se particularmente atroz na Alemanha e na Itália. Os nomes designavam o partido papal, como Guelfos, e o partido imperial como Guibelinos, no longo conflito entre o papado e os imperadores do Sacro Império Romano. Designavam também as duas famílias germânicas rivais: os Welfs ou Guelfos e os Hohenstaufen. Na Alemanha a rivalidade começou com o Imperador Henrique IV e culminou com a eleição do Imperador Otto IV. Na Itália, os termos foram mais usados entre os séculos XIII e XV e as lutas transformaram a península italiano numa guerra civil entre os Guibelinos de Ezzelino da Romano e a família Visconti de Milão. De uma maneira geral, Milão era guelfa assim como Florença e Gênova. Os guibelinos tinham forte apoio em Cremona, Pisa e Arezzo. Veneza matreiramente permaneceu neutra, tentando, como sempre operou sua diplomacia, tirar proveito do conflito.
Entre os séculos X a XII. os poderes ou reinos regionais, apesar de existirem sobre o manto da idéia universal do Imperador, não podiam ser chamados de "estados". Na Idade Média, uma pessoa deveria se sentir antes de tudo um cristão, depois um borgonhês e, somente em terceiro lugar, um francês (sendo que o sentir-se francês tinha, então, um significado inteiramente diferente do atual).
Somente durante a fase de transição, a partir do século XIII a XIV, os diferentes aspectos do que se convencionou chamar de nações-estados soberanos, começaram a emergir. A partir de então, a cúpula da velha ordem hierárquica - o Império e a Igreja como poderes temporais - perdia influência e estruturas de poder de menor nível iniciaram um processo de fortalecimento. Pouco a pouco, os reis se autoproclamaram, com ou sem a chancela da Igreja, os guardiões de seus estados soberanos, para o bem ou para o mal.
Começam também a aparecer novos conceitos como état, Staat, state, status etc. O desafio da hierárquica ordem universal do Sacro Império Romano, nos séculos X e XI, eram as monarquias normandas nos confins do Império, na França ocidental, na Inglaterra, na Sicília, Rússia e Polônia. Ignoravam a filosofia de poder do Império, criaram uma administração robusta, sua própria nobreza, um exército mercenário, um estamento judiciário e uma certa coerência política de finanças e de comércio.
Assim, os primeiros estados-nações soberanos estrearam na Inglaterra, com Henrique II Plantageneta (1154-89); na França, com Luiz IX (São Luiz)(1226-70); na Sicília, com Frederico II Hohenstauffen (1212-50) e na Espanha, com Fernando III (o Santo) e seu sucessor, Afonso, o Sábio (1252-58).
Essas novas formações de Estado estavam baseadas em atributos similares: i) uma clara ordenação jurisdicional; ii) uma estrutura territorial de acordo com distritos jurisdicionais; iii) a superioridade da corte real sobre a nobreza e a Igreja e iv) o fortalecimento da corte real e a emissão de novas leis e instituições num código promulgado em nome do rei.
O resultado dessas reformas, nesses quatro estados, estava nas mãos da liderança do estado e não mais nas mãos dos baronetes feudais e essa estrutura de poder tinha controle de vida ou de morte sobre seus súditos.
Havia, pois, uma consolidação do poder internamente e, ao mesmo tempo, uma declaração de soberania em relação aos outros soberanos de outras plagas. Em suma, significava o seguinte: i) o não-reconhecimento de nenhum outro poder maior sobre a sua terra; ii) a liderança de um rei em seu próprio território e iii) uma comunidade coerente de propósitos e princípios.
A noção do não-reconhecimento de nenhum outro poder maior sobre a sua terra tornou-se repentinamente o leit-motiv da transição do século XIII para o XIV e essa foi a idéia-força mais poderosa do desenvolvimento da moderna Europa.
No começo do século XIV, o conflito entre Bonifácio VIII e Filipe, o Belo transformou-se no slogan de luta do partido da realeza então emergente. Isso levou à convocação dos Estados-Gerais em 1302 e o Ato de 23 de fevereiro, no qual Filipe declarou a intenção de deserdar os seus filhos, se eles reconhecessem algum poder maior de autoridade na França que não fosse Deus. Afonso, o Sábio, na Espanha e Frederico II, na Sicília, adotaram o mesmo princípio.
Nesse ínterim, uma tensão não-resolvida entre o Império e as emergentes estados-nações, levou a uma concordantia discondantium como o conflito essencial do tempo. Os principais teóricos dos séculos XIII e XIV tentaram em vão solucionar esse impasse.
São Tomás de Aquino chegou mesmo a teorizar que a vida na sociedade não poderia existir se não houvesse alguém no topo da hierarquia estatal preocupado com o Bonum Communum - o Bem Comum.
Outro vetor importante na formação dos Estados Nacionais foi a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) na história européia: uma série de guerras entre várias nações por vários motivos, incluindo os religiosos propriamente ditos, os dinásticos, os territoriais, e por último e não menos importante, as rivalidades comerciais. Suas campanhas destrutivas e batalhas ocorreram sobre toda a Europa, e quando tudo terminou, através do Tratado de Westfália em 1648, o mapa da Europa tinha mudado irrevogavelmente.
Embora, a luta que o criou, explodiu alguns anos antes, a guerra convencionalmente começou em 1618, quando o futuro imperador do Sacro Império Ferdinando II (1578-1637), no seu papel de rei da Boêmia, tentou impor o absolutismo Católico Romano aos seus domínios, e os nobres protestantes da Boêmia e da Áustria iniciaram uma rebelião. Ferdinando venceu após cinco anos de luta. Em 1625, o rei Christian IV (1577-1648) da Dinamarca percebeu uma oportunidade de ganhar valiosos territórios na Alemanha para contrabalançar suas perdas anteriores de províncias do Báltico para a Suécia. A derrota de Christian e a Paz de Lübeck em 1629 puseram fim à carreira da Dinamarca como um poder europeu. O rei sueco Gustavo Adolfo II (1594-1632), contudo, tendo terminado uma guerra de quatro anos com a Polônia, invadiu a Alemanha e incorporou vários principados à sua cruzada antiimperial e anticatólica.
– Formação dos Estados Nacionais
(continuação)
Nesse meio tempo, o conflito ampliou-se, alimentado por ambições políticas de vários outros poderes. A Polônia, tendo sido estimulada a ser um poder no Báltico, e também cobiçada pelos suecos, incrementou suas próprias ambições ao atacar a Rússia, estabelecendo uma ditadura em Moscou sob as botas de Vladislau, futuro rei polonês. A Paz russo-polonesa de Polyanov em 1634 ao encerrar a demanda polonesa ao trono czarista, liberou a Polônia para reiniciar suas hostilidades contra seu arquiinimigo no Báltico: a Suécia, que agora estava enredada profundamente na Alemanha. Assim, no coração da Europa, três dominações religiosas - católicos, luteranos e calvinistas - rivalizavam para impor sua dominação. Isto resultou num nó górdio de alianças, forçando príncipes e prelados a se engajarem ou combaterem poderes estrangeiros. Acima de tudo, a luta era entre o Sacro Império Romano, composto obviamente pela Igreja Católica e pelos Habsburgos, e uma rede de cidades e principados protestantes que se apoiavam nos líderes anticatólicos da Suécia e dos Países Baixos, sendo que estes finalmente tinham se libertado do jugo da Espanha após uma luta de mais de 80 anos. Outro vetor de luta envolvia a rivalidade da França com os Habsburgos do Império e da Espanha, que tentavam construir um cordão antifrancês de alianças.
O campo de batalha de todos esses conflitos intermitentes foram as cidades e os principados da Alemanha, que sofreram terrivelmente com a política de terra arrasada. Durante essa guerra dos Trinta Anos, a maior parte dos exércitos contendores eram mercenários que não, muitas vezes, coletavam seu pagamento saqueando cidades. A Alemanha teve suas riquezas arrasadas por essa guerra predatória. Finalmente, após trinta anos de lutas, os dois lados resolveram, exaustos, se encontrar na província germânica da Westfália para for fim ao banho de sangue. O final mostrou que o mapa de poder na Europa tinha mudado radicalmente. A Espanha perdeu não só os Países Baixos mas sua posição dominante na Europa ocidental. A França era agora a nova líder no continente. A Suécia tinha o controle do Báltico. Os Países Baixos foram reconhecidos como república independente. Os estados membros do Sacro Império tornaram-se soberanos. A antiga noção de um império católico da Europa, liderado espiritualmente pelo papa e temporariamente pelo imperador, foi abandonado e a estrutura essencial da Europa moderna como uma comunidade de estados soberanos tinha finalmente sido estabelecida.
O ajuste europeu de 1648 pôs fim a oitenta anos de guerra entre a Espanha e a Holanda e a fase germano-holandesa da guerra dos Trinta Anos. A paz estava sendo negociada desde 1644 nas cidades westfalianas de Münster e Osnabrück. O tratado espanhol-holandês foi assinado em 30 de janeiro de 1648 entre o Imperador Ferdinando III, os príncipes alemães, a França e a Suécia. As únicas potências européias que não participaram foram: Inglaterra, Polônia, o ducado de Moscou e a Turquia. Além das modificações de fronteiras, o mais importante item foi o de redistribuição das competências eclesiásticas. A Paz de Westfália, além de confirmar a Paz de Augsburgo (1555), que garantira aos luteranos a tolerância religiosa no império e que tinha sido rescindido pelo imperador Ferdinando II no seu Edito da Restituição de 1629, estendeu tal privilégio também aos calvinistas.
A dramaticidade da Paz de Westfália resultou não no triunfo de uma fé sobre outra, mas na superação de pretensões de fundar um poder sobre uma fé. O vetor religioso começa a cessar de ser parte integrante e monopolística da política. Essa última se justifica, agora, a partir de dentro, para os fins terrenos, materiais e existenciais, do homem. Inicia-se um período em que a ordem e o bem-estar começam a imperar de uma maneira mais profana.
Será, pois, com a fundação política do poder, que se seguiu às lutas religiosas, que os novos atributos do Estado - mundaneidade, finalidade e racionalidade - se fundam para dar a este último a imagem moderna de única e unitária estrutura organizativa formal da vida associada. A montagem desse autêntico aparelho de gestão do poder, com componentes operacionais autônomos e definidos com a função de estabelecer a paz interna do país, a eliminação do conflito social, a normalização das relações de força. Tudo isso através do exercício monopolístico do poder por parte do monarca, definido como soberano enquanto é capaz de estabelecer, nos casos controversos, de que parte está o direito, ou, como se disse, de decidir em casos de emergência.
A globalização, como se verá mais adiante, abalará os alicerces desses pilares estabelecidos pelo Tratado de Westfália, pois, o conceito tradicional de poder do Estado, como visto anteriormente, era ligado ao controle do território, da população e dos seus recursos. Já a economia global flutua livremente pelo espaço mundial, o que lhe permite maximizar seu poder diante dos Estados estimulando a competição e jogando-os uns contra os outros simplesmente exercendo a opção-saída: não invisto mais, vou para outro país.
Não importa mais o controle territorial, e sim o livre acesso ao mercado e à mão-de-obra barata; todos os fatores de produção transitam livremente - e disso as corporações tiram seu benefício -, exceto a mão-de-obra, eterna prisioneira dos seus contornos territoriais. Nestas condições resta pouco do fundamento territorial e nacional da autoridade econômica. Os salários reais caem em função do aumento da oferta global; aí está o efeito China.
As antigas soberanias agora são partilhadas entre Estados e atores econômicos. Usando sempre a opção-saída como arma, os Estados se aproximam cada vez mais dos interesses do regime neoliberal. Com isso as empresas transnacionais passam a tomar decisões quase políticas. Governos e opinião pública vão se transformando em espectadores e a legitimação democrática se enfraquece. Não há clara definição de responsabilidades nem sistema legal, político ou social que as aprove ou legitime.
A necessidade de redefinir o Estado e o campo da política como instrumentos para reequilibrar e domar as forças em jogo continua inexplorada na era da globalização. Urge controlar e legitimar as estratégias econômicas que afetam intensamente o campo social.
(continua com outro capitulo)
Saudações de esquerda
Olhar atento* militante de esquerda
III - Gênese de Bretton Woods
Para se entender a globalização e a crise financeira que estamos vivendo nos dias atuais devemos recuar uns cinquenta anos para tentar entender as raízes remotas desse mundo do limiar do século XXI.
Durante a IIª Guerra Mundial montou-se a Conferência de Bretton Woods, um tratado de entendimento internacional, para regular o comércio mundial e a estabilidade monetária e financeira. Resultou de discussões bilaterais entre o Reino Unido e os EEUU, a partir de 1942, quando já se antevia a vitória aliada e a necessidade de instaurar uma ordem monetária internacional pós-guerra. Os negociadores eram, por parte do Reino Unido, o economista John Maynard Keynes, então assessor do Tesouro de Sua Majestade e, pelo lado norte-americano, o assistente do Secretário do Tesouro - Harry Dexter White.
Depois de meses de preparação, através de diversos grupos de trabalho dos dois países, em primeiro de julho de 1944, o Presidente Franklin Roosevelt convocou um grupo de 44 nações no vilarejo de Bretton Woods em New Hampshire, para discutirem uma proposta de princípios, preparada previamente pelos anfitriões, pretendendo a reconstrução econômica européia e a estabilidade monetária do pós-guerra. As conversações prosseguiram até o dia 22, quando se aprovou, por unanimidade, a proposta de criação do Fundo Monetário Internacional (FMI) e um Banco para a Reconstrução e Desenvolvimento, mais tarde mais conhecido como Banco Mundial.
No início de 1945, o FMI e o Banco Mundial começaram a operar quando a guerra caminhava para seu desfecho.
Os delegados ao conclave, além dos anfitriões, incluíam representantes da Comunidade Britânica e da América Latina. A delegação brasileira era presidida pelo então Ministro da Fazenda - Arthur de Souza Costa, mas a estrela da delegação, no dizer do Deputado Roberto Campos, que descreve o evento, com riqueza de detalhes nas suas Memórias (Lanterna na Popa, pg. 62), foi o professor Eugênio Gudin.
O problema básico de Bretton Woods era a restauração do comércio entre as nações para facilitar a reconstrução da infra-estrutura econômica da Europa devastada pela guerra.
Tinha-se, ainda em mente a devastadora experiência da guerra de tarifas de importação havida durante a década de 30 com a conseqüente luta competitiva pela desvalorização das moedas que levaram a uma brutal depressão econômica e, por que não dizer, mais tarde à eclosão da IIª Guerra Mundial. Os delegados de Bretton Woods estavam preocupados com a criação de um sistema monetário internacional que evitasse esses problemas no futuro.
Tanto o Banco Mundial, como o FMI, foram criados, prioritariamente, para tratar dos problemas econômicos dos principais países industriais da Europa, devastados pela guerra. Os países subdesenvolvidos e as colônias da África e da Ásia eram tidos, principalmente, como fonte das matérias-primas tão necessárias à reconstrução européia.
O fulcro do sistema de Bretton Woods foi a fixação da paridade cambial. As taxas de câmbio deveriam ser mudadas em relação ao ouro ou ao dólar em último caso e, somente, quando todas as medidas de política nacional tivessem malogrado. Após a guerra, houve um acordo para que o valor da libra esterlina, do franco francês, da coroa sueca, da lira italiana e, após 1948, do marco alemão, fosse fixado, mais ou menos permanentemente, ao par do dólar norte-americano. Investimentos de longo prazo e relações comerciais somente poderiam prosperar num ambiente de estabilidade cambial. Riscos de dramáticas perdas cambiais eram inexistentes nas regras primevas de Bretton Woods.
Em contraposição, o dólar norte-americano era fixado, ou melhor era congelado, em relação a uma dada quantidade de ouro, ou seja uma onça de ouro era equivalente a 35 dólares. O propósito era encorajar os outros governos a não desvalorizar suas moedas, simplesmente imprimindo mais papel e operando déficits colossais, pecado tentador no pós-guerra imediato, adiando assim a tão almejada estabilidade. Além do mais, a garantia do câmbio fixo acelerava a retomada do comércio internacional o mais breve possível.
O papel do dólar em Bretton Woods era único por diversas razões em 1945. Naquele momento, Os EEUU possuíam a moeda mais robusta, ancorada na mais possante e produtiva economia industrial, a nação líder do comércio mundial e que possuía um brutal lastro de ouro para apoiar sua moeda. O dólar norte-americano, como se dizia naqueles bons tempos, era a única moeda "tão boa quanto o ouro". As reservas européias de ouro eram as mais baixas, pois tinham sido sangradas pelos custos da guerra.
Como o Sistema da Reserva Federal dos EEUU detinha naquele momento 65% das reservas mundiais de ouro, fazia sentido estabelecer o que veio a ser conhecido como Gold Exchange Standard, ou seja, a plena conversibilidade do dólar em relação ao ouro e por conseguinte, a todas as moedas do mundo. Mediante esse padrão de Bretton Woods, o dólar era um substituto aceitável para as reservas dos Bancos Centrais. A um Banco Central de um país, filiado ao FMI, era permitido emitir moeda numa taxa definida pelas suas reservas tanto em ouro quanto em dólar. Objetivava-se para as economias européias, após a guerra, que o processo de criação de crédito não-inflacionário fosse mais fácil e encorajasse as altas taxas dos desejados e necessários investimentos industriais para uma rápida reconstrução. Assim, o Banco Mundial foi criado como o veículo para estender os empréstimos de reconstrução em dólar para os governos da Europa. Após o acordo de 1944 de Bretton Woods, seguiu-se o Plano Marshall e a criação da OECD com o começo da Guerra Fria.
O dólar funcionou durante um quarto de século, até o final da década de 60, como um substituto para o ouro. As taxas de investimento e o crescimento da economia real, durante a década dos 50, foram possíveis por haver estabilidade e por estarem ancorados no padrão dólar/ouro criado em Bretton Woods.
O controle sobre um membro do FMI, sob o sistema de Bretton Woods, que tentasse desvalorizar sua moeda promovendo impressão doméstica de dinheiro, era rigoroso já que esta atitude deveria ser a última regra. O FMI propunha agir mais como um pool financeiro de dólar e reservas de ouro de cada um de seus membros, usado para propiciar empréstimos de emergência, de curto prazo, até que o país-membro pudesse impor mudanças na sua política econômica para corrigir qualquer problema de balanço de pagamentos antes que se tornasse crônico. Hoje, infelizmente, atua como uma polícia de austeridade mundial. Em suma, o FMI era um estabilizador das economias mundiais, destruídas pela guerra. Hoje é um mentor que regula o crescimento dos países em desenvolvimento.
O sistema global, em suma, que se desenvolveu e cresceu desde o advento de Bretton Woods mantinha uma única estrutura dinâmica, ou seja, os EEUU eram o único pólo central gerenciando estrategicamente seus mercados de capitais e de bens não-controlados. Europa e Japão, cujos capitais tinham sido destruídos pela guerra, constituíam os emergentes países periféricos de então, num certo sentido símile com os emergentes de hoje. Eles foram sábios em escolherem uma estratégia de desenvolvimento de desvalorização cambial, controle do fluxo de capitais e do comércio, acumulação de reservas e usaram o pólo central como um intermediário financeiro que emprestava credibilidade para seu próprio sistema financeiro que estava sendo musculado. Em troca, os EEUU faziam empréstimos de longo prazo, geralmente através de investimentos estrangeiros diretos. Uma vez que o capital dessas zonas periféricas de antanho foram reconstruídos e suas instituições restauradas, esses periféricos migraram gradativamente para o centro do sistema. A partir daí, não haveria mais necessidade das taxas fixas e de controle de capitais.
Até aproximadamente 1958, quando as moedas européias começaram a se tornar conversíveis, o problema fundamental para a reconstrução econômica e para o comércio, na Europa Ocidental, era a escassez de dólar. Este era absolutamente necessário para estabelecer comércio entre os países da Europa ou com o terceiro mundo.
Como corolário, sob o sistema de paridade de Bretton Woods, com o dólar como moeda central de reserva, uma desvalorização unilateral do mesmo pelos EEUU era impensável. Somente reavaliações positivas de outras moedas não-conversíveis eram permitidas, pois as economias industriais estavam se recuperando das condições pós-guerra e começavam a possuir superávits em seus balanços cambiais. No final dos 60, a regra proibindo a desvalorização do dólar tornara-se um fator central no começo da quebra do sistema de Bretton Woods.
(continua novo capitulo)
Saudações
Olhar atento*
IV - A Quebra de Bretton Woods
Em 1958, o sistema de Bretton Woods de taxa de câmbio fixa tornou-se completamente operacional, visto que após 13 anos de funcionamento do FMI, o marco, a libra, o franco e outras moedas se tornaram plenamente conversíveis, não só para os Bancos Centrais, mas também para as transações entre os negócios privados.
Sob as regras de Bretton Woods, os bancos centrais dos países-membros do FMI podiam tomar os dólares que tivessem acumulado e trocá-los por ouro na Reserva Federal de Nova Iorque. As barras de ouro permaneciam fisicamente, contudo, em Nova Iorque, mas o ouro era creditado e registrado, com a anuência do FMI, para a conta do respectivo banco central membro. Antes de 1965, o montante de tais transações era relativamente pequeno.
Como visto acima, 1958 marca a plena conversibilidade das principais moedas européias e os bancos norte-americanos estavam aptos a realizar grandes empréstimos internacionais para as economias européias famintas de dólares para importar bens e equipamentos norte-americanos. A convertibilidade cambial assegurava aos emprestadores que o valor dos empréstimos permaneceriam constantes durante o tempo do mesmo. As companhias norte-americanas poderiam, com pequeno risco, investir em firmas européias, trocando seus dólares, dentro das regras de livre conversibilidade, por francos, libras, liras, marcos etc.
Depois surgiram atritos gerados pelos déficits internacionais dos Estados Unidos dos anos 60 seguidos pela denúncia do presidente francês Charles De Gaulle, do "privilégio exorbitante" usado pelos EUA para imprimir os dólares que permitiam que as companhias norte-americanas comprassem companhias européias.
O receio francês de ver o país completamente comprado pelos americanos tornou-se uma obsessão nacional durante a década dos 60, levando Jean-Jacques Servan-Schreiber, jornalista e político francês, a escrever o seu famoso Desafio Americano.
No começo de 1965, a França na sua ansiedade de se sentir invadida pelas corporações americanas, foi levada a detonar uma intervenção que desarranjou todo o acordo estabelecido em Bretton Woods. Ao invés de aplicar o seu saldo de dólares em títulos do Tesouro Americano, como era comum, os Bancos Centrais europeus, primeiramente o Banco de França, e em seguida o Banco da Inglaterra, começaram a pedir a troca de seus dólares por ouro na Reserva Federal, pela primeira vez em quantias avassaladoras.
Em 4 de fevereiro de 1965, o Presidente francês - General De Gaulle - pediu a troca do padrão ouro/dólar estabelecido em Bretton Woods e o retorno ao padrão ouro puro do século XIX. Por esta época, o Banco de França tinha acumulado imensas reservas de ouro e estava numa posição excelente como negociador exigente. De Gaulle propunha um novo sistema "numa inquestionável base monetária que não carregasse a estampa de nenhum país em particular". O General adotou a proposta de seu assessor Jacques Rueff, contra o conselho de seu próprio Ministro das Finanças e do Banco de França.
A reação à bomba arrasa-quarteirão do General foi tudo, menos calma. Os EEUU argumentaram, veementemente, contra a proposta francesa que propunha uma grande reavaliação do preço do ouro monetário, em torno de 100%. Isso permitiria aos americanos recomprar suas reservas de dólares nos bancos centrais europeus com ouro, como também estabelecer um preço alto o suficiente para encorajar o incremento da mineração do ouro ao redor do mundo.
Washington argumentou que uma desvalorização do dólar em torno de 100% desestabilizaria todo o sistema de comércio mundial. Além do mais, o imenso incremento no preço oficial do ouro teria enormes conseqüências na condução da Guerra Fria. O maior beneficiário, além da África do Sul, seria a União Soviética, o segundo maior produtor mundial de ouro. Os russos poderiam vender seu ouro, com enormes lucros, para financiar a importação de tecnologia ocidental, para modernizar sua economia, sistemas de armas e, em seguida, reforçar seu controle sobre os satélites cativos da Europa Oriental.
A França não se impressionou com a arenga americana. De Gaulle ordenou imediatamente a conversão de 300 milhões de dólares, uma soma considerável naquela época, trocada pelo Banco de França na Reserva Federal de Nova Iorque. Daí em diante, a França começou a trocar mensalmente seus dólares por ouro norte-americano. Outros bancos centrais seguiram as pegadas francesas. Não, porém, tão agressivamente.
A guerra do Vietnã, também na década dos 60, foi outro petardo contra Bretton Woods. Houve grandes déficits públicos, usados para financiar os custos de uma guerra impopular. Sem impor novos impostos, pois também seriam impopularíssimos, ano após ano, os bancos centrais europeus acumularam imensos montantes de dólares, na época, chamados de "Eurodólar".
Outro complicador da década foram os déficits crônicos do balanço de pagamentos inglês, em claro desafio às regras de Bretton Woods, pois o gabinete trabalhista britânico, apesar dos empréstimos emergenciais americanos, teimava em manter a sua política de pleno emprego, fato que culminou com a desvalorização da libra em 14% em novembro de 1967. Este colapso da libra e a sua desvalorização unilateral trouxeram então, à tona, as fraturas de base do câmbio fixo de Bretton Woods e, por decorrência, o problema do dólar claudicante.
No final de 1967, a inflação norte-americana, causada principalmente pelas despesas colossais advindas da guerra do Vietnã e os déficits crônicos no balanço de pagamentos, cresceram dramaticamente. As economias da Alemanha, do Japão e da França, pelo contrário, estavam experimentando um "boom" nas suas exportações e apresentavam superávits nos seus balanços de pagamento.
À luz destes fatos, os especuladores começaram a comprar somas imensas de ouro na bolsa de Londres e a trocar seus fundos em dólares por marcos e francos. Já farejavam que o dólar deveria sofrer uma desvalorização frente ao ouro e as principais moedas européias.
De Gaulle encorajou esta mudança. Um pool de ouro das dez principais economias industriais, lideradas pelos EEUU, concordaram, a partir de 1963, em colocar as reservas de ouro num consórcio para sustentar a paridade estabelecida em Bretton Woods, vendendo, quando necessário, suas reservas de ouro do sindicato no mercado de Londres. Entretanto, quanto mais ouro era ofertado em Londres, mais os especuladores compravam, sinalizando que o câmbio fixo de Bretton Woods estava nos estertores finais. Em junho de 67, De Gaulle, unilateralmente, retirou a França do consórcio de ouro de Londres, enfraquecendo-o significativamente.
Durante um período de seis meses, de outubro de 67 até a desvalorização da libra em abril de 68, os países aderentes àquele sindicato de ouro foram forçados a vender algo em torno de 3,5 bilhões de dólares em ouro, para acalmar os especuladores que aguardavam a quebra do sistema de Bretton Woods. Isto significou que os EEUU perderam 20% de suas reservas de ouro. Finalmente, em março de 68, o pool de ouro oficial foi dissolvido, começando assim a flutuação esquizofrênica da compra e venda de ouro, pois, enquanto o mercado privado se tornava livre, os bancos centrais ainda mantinham a paridade dos 35 dólares por onça.
No final de 69, a economia americana ingressou numa brutal recessão. Em 1970, a administração Nixon e a Reserva Federal afrouxaram a política monetária com taxas de juros mais amenas para estimular o crescimento doméstico. Imediatamente, os especuladores de moedas internacionais iniciaram um ataque maciço ao dólar. Em 1971, como a recessão piorava e Nixon se via frente a uma difícil campanha para sua reeleição, a inflação e o dinheiro fácil da Reserva Federal foram incrementados por pressão da Casa Branca.
Nixon indicou seu velho amigo Arthur F. Burns para ocupar o estratégico cargo de Presidente da Reserva Federal para que esta não se tornasse tão independente. O presidente necessitava, para sua reeleição em 72, de baixas taxas de juros e do aumento do suprimento de dinheiro para estimular uma economia cambaleante.
O torrencial fluxo de dinheiro levou a uma fuga de fundos de curto prazo para fora dos EEUU. Esta fuga de capitais alcançou 6.5 bilhões de dólares em 1970 e atingiu a cifra alarmante de 20 bilhões em 71. O déficit orçamentário seguiu as mesmas pegadas: 10 bilhões em 70 e 30 bilhões em 71. O custo da reeleição estava se tornando alucinante.
Assim, em agosto de 71, as reservas oficiais de ouro dos EEUU caíram pela metade das de 58. Algo mais alarmante, contudo, estava por vir, pois para cobrir os passivos externos dos EEUU, as reservas representavam somente 25% do total das futuras exigências sobre o ouro americano pelos bancos centrais estrangeiros abarrotados de dólares. Teoricamente, se todos os bancos centrais exigissem ouro pelas suas reservas de dólares, os EEUU quebrariam. Era o começo da débâcle da paridade de Bretton Woods.
Nos primeiros dias de agosto de 71, o Tesouro americano recebeu um relatório de inteligência, informando-o sobre um planejado ataque dos bancos europeus sobre as remanescentes reservas de ouro americanas. Este ataque seria liderado pelo Banco da Inglaterra e pelo Banco de França. Tomando a dianteira, o presidente Nixon num domingo - 15 de agosto de 1971, anunciou a um mundo estarrecido que a Reserva Federal dos EEUU não honraria suas obrigações, baseadas no Tratado de Bretton Woods, de trocar dólares por ouro. Era o chamado "choque Nixon". O dólar, assim como as outras moedas do mundo, começava a flutuar. A medida era parte de um Novo Programa Econômico, que incluía um congelamento de preços e salários, uma sobrecarga de 10% nas importações e cortes em imposto que visavam proteger empregos, ao mesmo tempo em que deveriam controlar a inflação e o déficit na balança de pagamento dos EUA. A expansão da liquidez do dólar fora dos Estados Unidos no pós-guerra obscureceu a conexão do dólar com o ouro.
Em 1973, o sistema de livre flutuação de moeda, oficialmente, tomou o lugar do sistema de Bretton Woods, abrindo caminho para a criação do que Rueff apelidou de moeda "papel impresso". O ouro tinha sido escorraçado do sistema monetário.
Os mesmos déficits que acabaram com as taxas de câmbio fixas de Bretton Wods, como se viu, estão na raiz da crise atual. Em seguida, as duas crises do petróleo dos anos 70 produziram as tentativas de reciclar os petro-dólares que resultaram em novas crises de dívida dos anos 80. Uma nova geração de problemas apareceu com o fim do império soviético no começo da década de 90, que coincide com a proliferação desmesurada de ativos financeiros, ou seja, a bolha financeira que, hoje, a todos envolve. A quebra do peso mexicano e o socorro internacional em 1995, bem como as crises asiáticas são sub-produtos dessa expansão financeira incontrolável, começando com o colapso da bolha japonesa em 1990 e as atuais dificuldades da Tailândia, Coréia, Indonésia, Malásia, Rússia e Brasil.
Uma vez entendido o colapso de Bretton Woods fica mais fácil analisar a crise monetária e financeira que o mundo vive nos últimos meses.
(continua novo capitulo)
Saudações
Olhar atento*
V - O Início da Crise
Um fantasma ronda o mundo: o fantasma da crise financeira. Os tigres asiáticos e o Japão, que até há alguns anos atrás encantavam o mundo com suas performances de crescimento econômico e recordes de exportação, a partir de julho de 1997 - quando o baht, a moeda tailandesa, despencou desvalorizando-se em 25% - perderam o seu encanto e mergulharam o mundo numa profunda crise financeira. A crise vem em ondas sucessivas: Hong Kong, Malásia, Coréia, Filipinas, Indonésia, e o Japão começam a balançar. O FMI que gastou uns 15 bilhões de dólares com o México, despendeu uns 50 bilhões com a Coréia, 17 com a Tailândia e 40 com a Indonésia. Se o Japão entrar em colapso, 100, 150 bilhões de dólares serão suficientes? Terá o FMI fôlego para tanto? O efeito-tequila seguido do efeito-ginseng, anteontem o efeito-vodka, ontem o efeito-caipirinha e quem sabe amanhã o efeito sakê, o efeito vodca polonesa, o efeito barak turco, não estão a exigir um repensar sobre a crise mundial e sobre os instrumentos de solução atualmente existentes? Ontem eram poucos os que defendiam reformas na arquitetura financeira mundial, mas hoje já se conta com expoentes ilustres do naipe de Joseph Stiglitz. Será mais uma crise cíclica do capitalismo como a de 29 ou desta vez estamos entrando em algo maior?
Estamos vivendo uma IIIª Guerra Mundial Monetária e Financeira e os únicos governos ainda a evitar o contágio é o chinês e o malaio. Tanto é vero que o Ministério da Defesa chinês emitiu um documento no qual afirma serem os efeitos da crise financeira mundial equivalentes aos efeitos de uma guerra total. No referido documento diz-se que a crise econômica ameaça as bases da nação, ou seja, a soberania da nação chinesa e, por este prisma, a questão da crise financeira deve ser enfocada como um problema de segurança nacional.
Faça-se aqui, um enfoque à crise financeira. O problema do desemprego, um dos grandes chamarizes das eleições de 1998 foi, magistralmente, analisado pelo professor Edward Luttwak, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais da Universidade George Washington. O estudo foi publicado inicialmente no London Review of Books em 07/04/94 e traduzido no Brasil pela revista Novos Estudos do CEBRAP, em novembro do mesmo ano. O professor Luttwak focaliza o caso dos EEUU e considera não ter sido este problema respondido satisfatoriamente nem pelos republicanos nem pela esquerda moderada abrindo, portanto, um espaço provavelmente a ser ocupado por uma espécie de partido fascista melhorado. Sintomaticamente, o título do artigo é: "Por que o Fascismo é a Onda do Futuro".
Se a Coréia ou a Indonésia ou até mesmo o Japão naufragarem, a área do dólar poderá sofrer um novo Pearl Harbor.
As dificuldades do Japão começaram com a alta do iene e com a abertura de seus mercados financeiros, ambos acelerados nos anos oitenta. Anteriormente o "choque Nixon", em 1971, tinha posto fim ao sistema monetário internacional de Bretton Woods, com suas taxas de câmbio fixas e liberou a âncora dólar-iene (US$1 = ¥360), que tinham tornado possíveis as prodigiosas exportações do Japão. Mas o preço do iene do pós-guerra não tinha nenhuma relação com a taxa de câmbio utilizada pelo Japão entre a Primeira Guerra Mundial e a Depressão, que possibilitou que se tornasse uma das maiores nações exportadoras do mundo. Em 1949, a ocupação militar norte-americana tomou a decisão política de fixar a cotação em ¥360 ao dólar (US$0,0028), o que contrasta com a média comercial de 40 centavos de dólares norte-americanos, vigente entre as duas guerras mundiais. A grande diferença entre o iene anterior e posterior à Segunda Guerra deveria servir para compensar a inflação depois do conflito e a ruína em que se encontrava a economia japonesa. "Desejamos que os japoneses sejam capazes de exportar", diziam os pró-cônsules norte-americanos no Japão de então ao trabalharem com políticas monetárias e financeiras durante a ocupação. "Nós os queremos ao nosso lado politicamente. Em 1949 o Japão foi destruído pela guerra e devastado pela fome e inflação. Estimamos que 90% das exportações japonesas pudessem ser vendidas a uma taxa de câmbio de 300, apesar de algumas delas serem lucrativas mesmo a 200. Mas não queríamos errar com algo tão importante e finalmente fixamos a taxa em 360. Para iniciar as exportações, conseguimos um crédito bancário para comprar algodão na Califórnia e enviamos missões comerciais às Filipinas, Indonésia e Brasil, para fornecimento de outras matérias-primas."
Com o "choque Nixon", o Secretário do Tesouro John Connally exigiu uma valorização de 20% do iene e mais tarde, revelou a outros ministros de finanças o seu temor de que o ministro japonês, Mikio Mizuta, pudesse cometer haraquiri caso fosse pressionado de forma muito dura. Depois de pechinchar bastante, Mizuta concordou com uma redução de 16,9%, ao mesmo tempo em que a classificava como "o maior choque econômico que o Japão experimentava desde o fim da Segunda Guerra Mundial".
A atual crise japonesa atingiu um primeiro tremor em abril/98, pois com o fechamento dos balanços em 31 de março de 1998, o mundo começou a tomar conhecimento dos empréstimos podres dos bancos japoneses. Em vista disto, o Banco do Japão tem pressionado o Banco de Compensações Internacionais, o Banco Central dos Bancos Centrais, sediado em Basiléia na Suíça, para uma "exceção" à regra criada em 1988 e efetivada a partir de 1992 que estatui precisarem ser mantidos 8 dólares de reserva para cada 100 dólares prontos para empréstimos.
A crise do sudeste asiático poderá atingir os EEUU de diversas maneiras, uma, de importância fundamental. O governo e o sistema monetário norte-americanos possuem uma crescente vulnerabilidade estratégica, pois 40% dos seus Títulos do Tesouro foram comprados por governos estrangeiros. Segundo estatística do Departamento do Tesouro de agosto de 1997, os EEUU têm 3,401 trilhões de dólares no mercado, sendo que 1,279 trilhão, em mãos de governos estrangeiros. Na carteira de títulos internacional, o Japão é o maior detentor de títulos do Tesouro com mais de 370 bilhões de dólares (170 bilhões com o Banco do Japão e 200 bilhões com os outros bancos japoneses) ou seja, algo em torno de 30% dos títulos norte-americanos em mãos estrangeiras são japoneses. Na hipótese de uma crise financeira no Japão, este se verá forçado a buscar liquidez no sistema internacional. Assim, os títulos norte-americanos serão os primeiros a serem vendidos e, é sabido por todos, que nem o mercado internacional nem os EEUU terão capacidade de absorver tal quantidade de títulos. Outro fator que amplifica a crise é o fato de os bancos japoneses terem emprestado mais de 200 bilhões de dólares para a sua área de influência no Sudeste Asiático. A Coréia deve também mais de 200 bilhões sendo que 75% vencem em menos de 12 meses. Qualquer desarranjo no sudeste asiático torna o Japão, num primeiro momento, o maior perdedor e a crise poderá vir em ondas sucessivas até engolfar todo o mundo.
Dado este quadro, a saída para a crise deveria ser uma mobilização, primeiramente do G-7, para uma reforma institucional do sistema financeiro internacional, já que num sistema globalizado, as instituições criadas em Bretton Woods (FMI, Banco Mundial etc.) são ineficazes para tratar com as grandes massas de capitais (efeito Soros) que se deslocam pelo mundo em velocidade fantástica. Outro fator a ser, veementemente considerado, é um freio nos mecanismos especulativos do mercado internacional, principalmente os derivativos analisados mais adiante.
Num mundo globalizado é bom distinguir os globalizadores dos globalizados, mas antes de discuti-los vamos ver como anda o processo de globalização.
(continua c/novo capitulo)
Saudações
Olhar atento*
VI - O Processo de Globalização
Uma análise rápida do custo-benefício da globalização coloca como benefícios os processos fantásticos de comunicação do mundo moderno, a redução desses custos como também os de transportes, a derrubada de barreiras artificiais aos fluxos de produtos, serviços, capital, conhecimento e pessoas através de fronteiras. O revigoramento das instituições inter-governamentais como a Organização das Nações Unidas - ONU, a Organização Internacional do Trabalho - OIT, a Organização Mundial da Saúde - OMS, o FMI, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio - OMC podem ser colocados ora nos custos ora nos benefícios dependendo dos humores dos EEUU. Os custos entrariam no rápido processo de empobrecimento dos países em desenvolvimento, pois a dita cuja não trouxe os benefícios econômicos prometidos. A globalização econômica e financeira não só teve insucesso em reduzir a pobreza como falhou fragorosamente em trazer a tão almejada estabilidade. Crises na Ibero-América e na África têm ameaçado a economia física e a estabilidade desses países. O medo do contágio financeiro, para os países que não possuem controle de capitais, espalhou-se pelo mundo. No período de 1997 e 1998, parecia que a crise asiática colocava em cheque a economia mundial. Allan Greenspan, presidente do Federal Reserve Bank, o Banco Central dos EEUU, lutou como um leão para superar a crise.
A Rússia, assessorada pelos maiores economistas ocidentais, pagou um preço extremamente caro para sair do comunismo e cair de quatro na sua terapia de choque capitalista. A China, pelo menos, foi mais sábia. Enquanto em 1990, o PIB chinês era 60% do russo, no fim da década os números tinham sido revertidos. Até certo ponto, a má gestão do processo de globalização na Rússia foi pior do que a destruição de seu parque industrial durante a Segunda Guerra Mundial, pois durante esta a destruição foi de 24% enquanto que, durante 1990 e 1999, a produção industrial russa caiu 60% (o PNB caiu 54%)!
Os críticos da globalização acusam os países ocidentais de hipócritas, pois enquanto forçam os países pobres a anular as suas barreiras comerciais, mantêm as suas elevadas, dificultando ou tornando impossível, para os países em desenvolvimento, exportar seus produtos agrícolas, privando-os de uma renda de exportação vital para o seu crescimento. Os bancos ocidentais se beneficiaram da suspensão de controle do mercado de capitais na Ibero-América e da Ásia, pois essas regiões sofreram na pele os fluxos especulativos do dinheiro de curto prazo. O dinheiro quente é aquele que entra e sai numa velocidade estonteante, pois as regulamentações foram banidas na mais pura doutrina do laissez faire. Esse corte abrupto de dinheiro desvaloriza violentamente as moedas nativas e quebram os seus sistemas bancários, que no final são vendidos a preço de banana na feira.
Para começar a entender o que se passa é bom focalizar as três instituições estratégicas que governam a globalização: o FMI, o Banco Mundial e a OMC, o antigo GATT. Estamos aqui em pleno processo do aspecto econômico e financeiro da globalização e das instituições que escrevem as regras que todos irão seguir.
Vimos acima que o paradigma de Bretton Woods preceituava que a falta de suficiente demanda agregada explicava as depressões econômicas e, por conseqüência, políticas governamentais poderiam ajudar a estimular a demanda agregada. Nos casos onde a política monetária fosse inefetiva, os governos deveriam forçar a política fiscal, seja pelo incremento dos gastos ou pela redução dos impostos.
O FMI estava encarregado então de prevenir futuras depressões em escala global. Isto seria feito colocando pressão internacional nos países que não estivessem se esforçando em manter a demanda agregada global. Quando necessário, poderia também prover liquidez, na forma de empréstimos, para aqueles países que enfrentassem uma depressão econômica e fossem incapazes de estimular a demanda agregada com seus próprios recursos.
Na sua concepção original, o FMI estava baseado no fato de que o mercado muitas vezes não funcionava bem, o que poderia resultar em desemprego maciço como também falhar em prover os fundos necessários para restaurar a economia depauperada. A crença fundamentalista do FMI de então era a necessidade de uma ação coletiva, em escala global, para manter a estabilidade econômica, assim como as Nações Unidas ainda acredita (e ela não mudou até hoje) que há uma necessidade de ação coletiva, em termos também globais, para manter a estabilidade política. Assim pois, o FMI é também uma instituição pública mantida com o dinheiro dos contribuintes dos países membros de todo o mundo. É interessante ressaltar esse fato, pois ele não se reporta aos cidadãos que o financiam ou àqueles cujas vidas ele afeta, mas se reporta aos ministros das finanças e aos bancos centrais do mundo todo. Em suma, os países desenvolvidos são responsáveis pela sua política, com a posição privilegiada dos EEUU com o poder de veto. A centralização no FMI é muito maior do que no Conselho de Segurança das Nações Unidas, pois enquanto nesse o poder de veto é repartido entre as cinco nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial, naquele somente os norte-americanos exercem tal poder.
A concepção básica do FMI mudou consideravelmente: desde os primórdios, dado que então se acreditava piamente que os mercados, muitas vezes, não funcionavam bem; hoje em dia, crê piamente, com fervor ideológico, que o mercado é o demiurgo inconteste. No início, pugnava por uma pressão internacional nos países membros para ter maior política de expansão econômica, ou seja, aumentando o gasto público, reduzindo os impostos, ou abaixando as taxas de juros para estimular a economia. Hoje, inverteu a pauta: somente provê fundos para os países engajados em políticas de corte de déficits, aumento da taxa de juros e dos impostos, fatores que levam à contração da economia. Roosevelt, Keynes e Dexter devam estar se remexendo nas suas sepulturas...
O ponto de inflexão na mudança de orientação do FMI e do Banco Mundial ocorreu na década de 80, em pleno consulado de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, quando a ideologia do mercado livre impregnou as elites dos EEUU e do Reino Unido. Com o enfraquecimento e posterior derrocada do comunismo, esses dois órgãos se tornaram os missionários da nova ideologia do mercado livre para relutantes ministros da fazenda e presidentes de bancos centrais de países pobres ou remediados que necessitavam desesperadamente de seus empréstimos e incentivos. As equipes econômicas dos países em desenvolvimento, que antes de ocuparem os seus postos-chaves nos seus respectivos aparelhos de estado, estagiam no FMI ou no Banco Mundial, tornaram-se cristãos-novos dessa nova ideologia e foram rapidamente convertidos ao novo credo.
Convém, ainda ressaltar que o programa de estabilização do FMI segue hoje o padrão básico dos empréstimos de emergência estabelecidos pela Liga das Nações para ajudar países europeus, alguns deles criados após a Primeira Guerra Mundial, para superar a hiperinflação dos anos 20.
No início da década de 80, houve uma depuração no interior do Banco Mundial, no seu departamento de pesquisa, que é a elite pensante do banco. Hollis Chenery, um distinto professor de Harvard, especialista em problemas de desenvolvimento, confidente e assessor de Robert McNamara, que tinha sido presidente do banco em 1968, foi decapitado com toda sua equipe dos postos de direção do banco. Com a subida ao poder de William Clausen, ex-presidente do Bank of América, mudou-se toda a filosofia do banco. Clausen nomeou como sua economista chefe a nossa querida Ann Krueger, atualmente a número dois do FMI, uma especialista em comércio internacional. Enquanto Chenery e a sua equipe tinham o foco em como os mercados falham em países em desenvolvimento e o que o governo pode fazer para incrementar o mercado e reduzir a pobreza, Krueger tem uma visão bem diferente: como reduzir o papel do governo, pois esse é o problema, para que o mercado possa funcionar a contendo. O mercado livre era a solução para os problemas dos países em desenvolvimento. A velha orientação do FMI estava sendo substituída pelo Consenso de Washington, ou seja, um consenso entre o FMI, o Banco Mundial e a Secretaria do Tesouro dos EEUU sobre qual deveria ser a política correta para os países necessitados no tocante ao desenvolvimento econômico e a estabilização. Os pilares do Consenso são os seguintes: austeridade fiscal, privatização e liberalização de mercados (financeiro, de capitais e barreiras de comércio).
Muitas das ideias incorporadas ao consenso foram desenvolvidas em resposta aos problemas vividos na Ibero-América, onde os diversos governos haviam perdido o controle sobre seus orçamentos e políticas monetárias frouxas e desastrosas tinham levado a inflações a níveis galopantes. A busca do crescimento, em alguns desses países da região, nas décadas imediatamente após a IIª Guerra Mundial, não tiveram um desempenho sustentado e alegava-se que a causa disso era a excessiva intervenção estatal na economia.
A solução do consenso era medianamente simples: liberalização do mercado de capitais, a despeito do fato de que tal política não levava necessariamente ao crescimento econômico. O consenso não levava em conta que tais políticas não eram apropriadas para países em tais estágios de desenvolvimento. Os EEUU e o Japão, para não citar outros desenvolvidos, construíram suas economias baseados em sábias e seletivas barreiras protecionistas e somente as liberaram, em parte, essas barreiras de suas indústrias, quando estavam suficientemente sólidas para competir com firmas estrangeiras. Forçar um país em desenvolvimento a liberalizar a importação de produtos, que inevitavelmente competirão com suas indústrias ainda incipientes, pode ter desastrosas conseqüências sociais e econômicas. Empregos têm sido sistematicamente destruídos, fazendeiros descapitalizados nesses países simplesmente não conseguem competir com os produtos agrícolas altamente subsidiados da Europa e dos EEUU, antes que os setores industrial e agrícola desses países estejam fortificados por um crescimento sólido e possam também criar novos empregos. Pior ainda do que tudo isso, é a ideológica insistência do FMI em manter, nos países em desenvolvimento, rígidas políticas monetárias que levam a taxa de juros aos píncaros da lua, tornando impossível a criação de novos empregos. E por que a liberalização do comércio ocorre antes que as redes de segurança possam ser colocadas, aqueles que perdem seus empregos são lançados na mais abjeta pobreza. Segue-se à liberalização, não o prometido crescimento, mas o incremento da miséria. A insegurança permeia toda a sociedade, prenunciando a guerra civil. São esses, pois, os sintomas da síndrome da Argentina. Seguindo esse modelo suicida, todos na Ibero-América caminharão em direção ao matadouro, logo atrás dos passos da Argentina, e uma vez chegando lá, o próximo estágio é a africanização.
O controle da capital é outro capítulo do drama. A Europa das décadas de 50/60 e a Ásia de hoje barraram a liberalização financeira que requeria taxas flexíveis de câmbio em relação ao país central, ou seja, os Estados Unidos. A Europa, de uma maneira geral, só baniu o controle de capital na década de setenta quando já estava com superávits para enfrentar o gigante americano. Como exigir então que países em desenvolvimento, com sistemas bancários raquíticos e sem uma estrutura de proteção, possam abrir seus galinheiros às raposas do mercado internacional financeiro e bancário? As medidas preconizadas não são errôneas de per si, o que se discute hoje - conforme tem criticado Joseph Stiglitz, chefe do Conselho de Assessores Econômicos do Presidente Clinton, ex-vice-presidente do Banco Mundial e Nobel de Economia de 2001, no seu livro A Globalização e os seus Malefícios - é também o timing e o sequenciamento da terapia de choque imposta pelo FMI e o Banco Mundial. É um completo suicídio a Bolívia e o Nepal abrirem o seu mercado de capitais aos Mellon-Chase e aos City da vida.
As críticas ao Consenso já começam a aparecer na imprensa conforme pode ser visto através do Anexo I no final desse artigo. As relações incestuosas entre as instituições componentes do Consenso explicam por que Robert Rubin veio direto de um dos maiores bancos de investimento do mundo - Goldman Sachs - para a Secretaria do Tesouro no governo Clinton e ao término do mandato pousou tranqüilamente no Citigroup e Stan Fischer, até há pouco o número dois no FMI, é hoje um alto executivo no mesmo Citigroup.
Uma análise interessante é o comparativo entre o milagre dos tigres asiáticos e as políticas preconizadas pelo Consenso. O que se convencionou chamar de milagre asiático nada mais é do que um misto de altas poupanças auferidas por esses países do sudeste asiático com investimentos bem feitos e implementados através de políticas coordenadas firmemente pelos seus respectivos Estados Nacionais. As políticas governamentais desempenharam um papel importantíssimo ao permitir que as nações do sudeste asiático realizassem as duas tarefas de maneira primorosa. Se estivessem na Ibero-América bateriam de frente com o Consenso, pois a combinação de altas taxas de poupança, investimentos do governo na educação e uma política industrial comandada pelo Estado transformaram os países do sudeste asiático em potências econômicas. O único ponto em comum com o Consenso de Washington foi a importância na macro-estabilidade. No Consenso, o comércio era importante, mas a ênfase estava em promover as exportações, não em remover empecilhos à importação. O comércio nos países asiáticos acabou por ser liberalizado, mas de forma gradual à medida que novos empregos iam sendo criados nos setores exportadores. O Consenso assinalava com vigor a liberalização a jato dos mercados financeiros e de capitais, os asiáticos os liberalizaram em doses homeopáticas; a China ainda os esta liberalizando até hoje e sem pressa. No domínio da privatização, uma das bases do Consenso, os governos do leste asiático ajudaram a criar empreendimentos eficientes, que desempenharam um papel estratégico no sucesso do modelo. As políticas industriais, pelas quais os Estados Nacionais buscavam formar a direção futura da economia, tabu para o Consenso, foram implementadas com paciência chinesa por aqueles países. As políticas de atenuação das desigualdades sociais, pelas quais o Consenso passava em branco, foram implementadas pelos asiáticos não só para manter a coesão social com também para oferecer um clima favorável aos investimentos e ao crescimento. Em suma, enquanto o Consenso buscava um Estado minimalista, os governos locais e nacionais no leste asiático ajudaram a formar e direcionar os mercados.
Vejamos agora como anda a globalização no arraial dos globalizados.
(continua)
Saudações
Olhar atento*
VII - Os Globalizados
O sistema bancário de uma nação é um dos setores mais estratégicos de sua elite de poder. No clube dos donos do poder, o sistema bancário tem uma forte participação. Quem dominar o sistema bancário já começa com uma vantagem fundamental no Country Club do poder efetivo. A Ibero-América está no rol dos globalizados no processo geral de globalização. Como andará seu sistema bancário? É o que se verá agora.
A partir de 1996 assiste-se a uma escalada frenética de controle estrangeiro dos bancos ibero-americanos. Os últimos dados apresentam o seguinte: 41% dos bancos da Venezuela são controlados pelo capital externo, o Peru com 42%, a Colômbia com 51%, a Argentina com 53%, o Chile com 55%, o México com 59% e o Brasil, que antes de sua crise cambial estava com 18%, hoje já está com mais de 40%.
A crise financeira quando alcança um país, além da desvalorização de sua moeda, deprecia radicalmente o valor de seus ativos. Os grandes negócios, ou seja, a compra de bancos e fábricas são feitos logo após a crise, quando os globalizantes compram impérios a preço de ocasião, o que antigamente era conhecido como negócio da China.
O caso do México exemplifica-se modelarmente. Antes da crise, em 1992, o México tinha um único banco estrangeiro (City Bank) operando no país com somente 1,5% dos ativos bancários totais. Hoje, após a crise financeira de dezembro de 1994, os bancos estrangeiros controlam, como vimos acima, 59% dos bancos mexicanos. O Montreal comprou o segundo maior banco do país; o HongShang, o terceiro; o Scotiabank, o quarto; o BHC, o sexto; o Banco Bilbao Vizcaia, o sétimo e o Santander, o nono dos maiores bancos do país. Na Argentina, oito dos seus dez maiores bancos estão em mãos de bancos alienígenas. O Peru está em situação um pouco melhor, pois seis dos seus dez maiores bancos são controlados por capitais internacionais.
Curioso salientar que o controle externo não vem de Wall Street mas sim da City de Londres, capitaneados pelo Hongkong and Shanghai Banking Corp. O HongShang possui o terceiro banco no México, o sétimo no Peru, o primeiro no Chile, o sexto no Brasil, o nono na Argentina, etc. O Banco de Santander da Espanha, outro glutão no Hemisfério, possui laços estreitíssimos com bancos escoceses. Na Argentina, por exemplo, 54% dos ativos dos dez maiores bancos estão sobre a influência de bancos britânicos enquanto os outros estrangeiros possuem somente 7%. Na Colômbia, o Reino Unido controla 38% dos dez maiores bancos enquanto os outros estrangeiros, míseros 4%.
Em 1992, a Colômbia tinha somente 11% dos seus ativos bancários em mãos externas contrapostos aos 51% de hoje. A Argentina que sempre possuiu um percentual alentado de controle externo - 18% em 1992 contrapostos aos atuais 53%.
A abertura bancária advinda do efeito-tequila, ou seja, da crise mexicana de 1994, parece que está fazendo escola na Ibero-América, pois a Venezuela aprovou uma lei, ainda em 1994, desregulamentando o seu sistema bancário e permitindo 100% de participação estrangeira nos bancos locais.
O Brasil tinha resistido às investidas estrangeiras. O caso da compra do Bamerindus pelo HongShang começa a quebrar o monopólio dos bancos nacionais, privados ou públicos.
Outro ponto importante desta blitzkrieg financeira seriam os fundos de pensão que estão sendo privatizados em toda Ibero-América com a notável, ainda, exceção do Brasil. Os fundos de pensão chilenos, algo em torno de 25 bilhões de dólares, desde 1980 estão em mãos dos mesmos grupos financeiros estrangeiros que compraram 55% dos seus bancos. Argentina (7,3 bilhões de dólares) e Peru (1,4 bilhões de US$), ambos aprovaram legislação privatizante dos fundos de pensão em 1994. A Venezuela (5 bilhões de US$) fez o mesmo no ano passado. O mastodonte brasileiro com seus 50 bilhões de dólares aguarda a sua vez.
O cronograma da avalanche financeira estrangeira tem sido o seguinte: o México iniciou o processo em 1995; em seguida o Chile em meados de 1996; a Venezuela no final de 96 e finalmente a Argentina e o Peru no final de 1997.
Os grandes glutões financeiros são, principalmente, da Comunidade Britânica e dos EEUU. Da Comunidade o campeão é o HongShang que controla, hoje, algo em torno de 46 bilhões de dólares na Ibero-América, seguido do Banco de Montreal com 32 bilhões e o Banco da Nova Escócia com 22 bilhões. Os nominalmente espanhóis, mas com estreitos laços na City londrina são: Banco de Santander que controla 33 bilhões, Banco Bilbao Vizcaia com 26 bilhões e o BCH com 24 bilhões. O Citibank, durante 80 anos o escalão avançado de Wall Street na Ibero-América vem em mísero sétimo lugar, controlando meros 16 bilhões de dólares; o Boston vem em oitavo com o controle de 10 bilhões.
Apesar de a Constituição Brasileira proibir a entrada de bancos estrangeiros no Brasil sem reciprocidade, será salutar observar o desenrolar do filme quando da próxima crise financeira, pois, no caso da compra do Bamerindus pelo HongShang houve intervenção direta das autoridades, monetárias e superiores, que aproveitaram um feriado bancário para exarar um decreto, publicado em edição especial do Diário Oficial, pronunciando que a venda do Bamerindus foi feita "no interesse do Governo Brasileiro".
Se no arraial dos globalizados a situação não é das mais confortáveis, como andará o tônus financeiro dos globalizantes? Antes da análise dos globalizantes há que se fazer um parêntese para abordar um pouco os derivativos, nos quais está montada uma bomba que, ao explodir, poderá desencadear a crise global do sistema.
(continua )
Saudações
Olhar atento*
VIII - Derivativos
Esotérico é o mundo dos derivativos. As palavras de passe são aparentemente quase místicas: floors, forward, caps, puts, calls, spreads, swaps, straddles, butterflies e condors. Afinal o que são derivativos?
Para tentar se defender de oscilações de preços futuros de um ativo financeiro ou até mesmo alavancar suas aplicações, investidores apostam em derivativos, que são ativos financeiros que derivam, como o próprio nome já diz, de um outro ativo.
No Brasil, as modalidades mais utilizadas são a termo e de opções nas bolsas de valores e as operações na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), como negociação de algumas commodities agrícolas, câmbio, ouro e índices como o futuro do Ibovespa.
Quem acha que o preço do ativo a ser negociado vai subir entra na operação como comprador. Assim, garante que, mesmo que daqui a um tempo o preço suba, ele comprará pelo preço combinado. Mas se o preço cair, o investidor pode ter que pagar pela quantia combinada, que pode ser maior do que a encontrada no mercado à vista.
Em opções, depois de pagar um prêmio ao vendedor, o comprador pode ou não exercer seu direito de compra, ou seja, pode optar. Os vencimentos ocorrem sempre na terceira segunda-feira dos meses pares do ano. Já no contrato a termo, passado o tempo combinado - os vencimentos acontecem normalmente 60 ou 90 dias a partir da assinatura do contrato - as duas partes são obrigadas a liquidar a operação.
No mercado a termo, é preciso depositar garantias. No caso do vendedor coberto (que já tem as ações), as próprias ações negociadas. Já as garantias do vendedor e do comprador descoberto são depositadas em dinheiro, títulos e cartas de fiança, por exemplo. No contrato de opções, o comprador tem que pagar uma quantia ao vendedor pelo direito, se quiser, de comprar as ações. Mesmo que não compre, o dinheiro do prêmio não é devolvido.
Liquidar antes do prazo
As operações a termo podem ser liquidadas antes do vencimento e, por isso, é definido no contrato quem pode pedir antecipação e se o valor a ser pago terá que ser integral ou proporcional ao número de dias combinado.
Os derivativos são usados para fazer Hedge. Se uma empresa tem dívidas a pagar em dólar pode fechar na BM&F um contrato de dólar futuro para garantir que pagará a cotação desejada quando tiver que quitar a dívida. Dessa forma, mesmo que a moeda americana ultrapasse a cotação fixada, a empresa comprará pelo preço combinado. Neste caso, ela estará protegida, ou seja, fez um hedge.
Os derivativos, quando não são usados como hedge, são investimentos de alto risco. Vamos supor que alguém resolveu fechar um contrato futuro de café como vendedor e apostou que, se hoje vale R$ 14, vai custar R$ 12 daqui a 30 dias. Passado esse prazo, se a cotação cair apenas para R$ 13, e esse alguém não tiver o café, terá que comprar no mercado por R$ 13 para vender por R$ 12 (o valor combinado). Ou seja, vai perder dinheiro.
Os derivativos são, pois, instrumentos financeiros que permitem proteger todo tipo de ativo e de passivo - como receitas de exportação ou dívidas de importação de uma empresa - contra algum imprevisto financeiro futuro. Tal imprevisto pode ser uma grande desvalorização cambial, uma alta repentina dos juros ou ainda uma queda nos preços internacionais de mercadorias como laranja ou soja. Essas operações são chamadas assim por se basear em contratos futuros, derivados de cotações presentes de moedas, de taxas de juros e de preços de commodities. Existem ainda as 'alavancagens' empregadas em ações e derivativos de ações que aumentam a volatilidade dos mercados e pode vir a produzir surpresas desagradáveis como se tem visto ultimamente. A alavancagem é uma espécie de financiamento que permite aos fundos fazer aplicações em valores muito maiores que os de seus patrimônios. Elas se desenvolveram tanto nos últimos anos que hoje movimentam, no mundo inteiros, trilhões de dólares por dia.
Veja-se mais um exemplo prático. Suponha-se que uma empresa americana tenha relações de importação bem acentuadas com a Alemanha e resolva utilizar derivativos para se proteger contra a queda do dólar frente ao marco. Com um swap de moedas, pode garantir o pagamento em dólar. Para isso basta pagar um pequeno percentual sobre o valor total da operação ao agente financeiro. Se não quiser fazer o swap, poderá comprar futuros de marco alemão no mercado internacional. Ainda aqui estará protegida da queda do dólar. Eis que vem à cabeça uma pergunta óbvia: por que essa empresa não compra marcos diretamente, em vez de fazer uma operação de derivativos? É que, simplesmente, para comprar os marcos, precisaria empatar muito mais capital. Ao optar pelos derivativos, ela mobiliza muito menos dinheiro, pois os contratos são liquidados pela diferença entre a cotação atual e a futura. Os derivativos, nos seus primórdios, foram uma poderosa tecnologia financeira para reduzir os riscos das empresas.
Para os especialistas, que acompanham continuamente o mercado dos derivativos, os ganhos e as perdas são colossais. Dentre as perdas mais significativas, nos últimos anos, pode-se citar a da matriz da Procter & Gamble, empresa que, no Brasil, incorporou a Phebo. Seu prejuízo foi de mais de 102 milhões de dólares com operações especulativas de swap de dólares por marco alemão. Apostou, firmemente, que ganharia com a diferença de juros existentes nas duas economias. Com a alta dos juros americanos, a perda foi fulminante. A P&G tentou acusar o Bankers Trust de mau assessoramento, mas responsabilizaram, no final, apenas o tesoureiro, sumariamente demitido.
Em setembro de 93, a Europa foi sacudida por uma das maiores "quebras" de empresa de sua história: a falência do segundo maior grupo industrial italiano - Feruzzi - devido à especulação mal sucedida com derivativos. Em 6 de dezembro explode financeiramente o mais rico município dos EEUU: o Orange County da opulenta Califórnia, como resultado de uma perda de 3 bilhões de USD em contratos de derivativos.
A Kashima Oil, do Japão, perdeu 1,5 bilhão de USD em operações com moeda. A Metallgesellschaft, conglomerado alemão da área de commodities, teve perdas semelhantes com derivativos de petróleo.
Num fim de semana (25/26) de fevereiro de 95, enquanto o mundo voltava seus olhos para a Ibero-América, estoura a primeira bomba da Ásia: a bancarrota do banco britânico Barings como resultado de perdas de um bilhão de USD devido à especulação com derivativos na Ásia. No dia 4 de março de 1995, em Londres, após uma reunião dos dez maiores banqueiros da Grã-Bretanha, Sir Eddie George, presidente do Banco da Inglaterra, anunciava constrangido que o Barings, o mais antigo banco inglês de investimentos, fundado em 1762, falira irremediavelmente. Um prejuízo de US$ 1,4 bilhão, impossível de ser coberto pela banca inglesa, transformava em nada as economias de correntistas de quase todo o mundo, aí incluídos alguns milionários fundos de pensão da Califórnia e até mesmo a rainha da Inglaterra.
A quebra do Barings, em menos de três semanas, o chamado banco da Rainha, de tradição de mais de 232 anos, foi imputado a um gerente de 28 anos - Nicholas Leeson - do escritório de Cingapura causando espanto mundial. O que não se informou era que o referido banco especulava com derivativos há um bom tempo.
Em 17 de janeiro de 1995, um terremoto arrasou a cidade japonesa de Kobe, e o mercado financeiro logo previu que a economia do Japão sofreria abalos importantes nos meses seguintes. O índice da Bolsa de Tóquio, o Nikkei, logo registrou uma queda de mais de 10%. Leeson pressentiu ali uma grande jogada, e começou a apostar pesado numa rápida recuperação do índice Nikkei. No final do mês, o Barings já tinha mais contratos futuros do Nikkei do que todas as casas de Osaka juntas. Ao fim de fevereiro, após outra queda brusca do Nikkei, auditores foram enviados a Cingapura para entender os prejuízos do banco. Depois de ouvirem Leeson, voltaram a Londres convencidos de que o Barings estava às vésperas de obter lucros formidáveis. Em março, porém, tornou-se evidente que nada salvaria o Barings da inadimplência. O banco quebrou e passou ao controle do holandês ING pelo preço simbólico de 1 libra. Segundo o estudo do economista do FMI, no caso da quebra do Barings o Banco da Inglaterra e o próprio Tesouro britânico decidiram que o peso da instituição no sistema financeiro não era suficientemente grande para justificar o investimento de dinheiro público numa operação de socorro. Uma onda de perplexidade e medo varreu o mundo financeiro na época, com o receio de uma repetição em cascata desse acontecimento. Uma revista noticiou que a forma como se deu a implosão da grande casa bancária era "o mais nítido e apavorante retrato das finanças mundiais neste fim de século…"
Em junho, o Ministro das Finanças do Japão admitia que devido a más aplicações, o sistema bancário estava furado em 471 bilhões de USD. Em meados de junho, conforme decidido na reunião do G-7 em Halifax no Canadá, os bancos centrais começaram a bombear dinheiro barato nos seus respectivos sistemas financeiros quebrados, salvando-os momentaneamente, mais uma vez, e provocando uma espetacular ascensão das bolsas de ações na Ásia, Europa e EEUU. Em junho, anunciam-se gigantescas perdas em torno de 4 bilhões de USD do conglomerado Sumitomo mais uma vez devido a contratos financeiros de derivativos. Agosto de 95 assiste simultaneamente ao colapso da segunda maior associação de crédito japonesa - Kizu Shinyo Kumai e do banco Hyugo, a primeira quebra de banco no pós-guerra do Japão. A população japonesa começa a entrar em pânico retirando seu dinheiro dos bancos privados e colocando-o no banco Postal de propriedade do governo.
Em março de 97, começam os primeiros tremores da crise do Sudeste asiático com a Tailândia anunciando o fechamento de sua maior firma financeira - Finance One Plc e o ataque especulativo à sua moeda: o baht. A Tailândia, em junho, suspende a operação de 16 bancos. Duas semanas depois, começam as especulações em torno do ringgit da Malásia, do peso filipino e do dólar de Hong Kong e o Japão toma medidas de emergência para evitar o colapso de alguns de seus maiores bancos como o Banco Nippon Credit e o Banco Hokkaido Takushoko. Em meados de agosto, a crise no sudeste asiático começa a lançar ondas sísmicas sobre Nova Iorque, causando a queda de 247 pontos no Dow Jones. O mercado de ações de Londres experimenta a sua maior queda desde 1987. O FMI anuncia um aporte de 17,2 bilhões de USD para a Tailândia. O sistema financeiro do sudeste asiático começa a explodir em outubro e a bolsa de NY caí 550 pontos num único dia. O pânico é prevenido pela manipulação maciça da bolsa pelo Federal Reserve e pelas grandes companhias dos EEUU, as quais compraram blocos de suas próprias ações num esforço temporário bem sucedido para alavancar o mercado. O FMI promete, em outubro, 12 bilhões de USD de assistência emergencial para a Indonésia e outros 57 bilhões para a Coréia do Sul. A Yamaichi Securities, a quarta maior empresa de seguros do Japão quebra em novembro. Em janeiro de 98, colapsa a Peregrine Investment de Hong Kong. Em final de maio, o Economist de Londres escreve que o escritório de Cingapura da União de Bancos da Suíça - UBS apresentou perdas na Ásia nos últimos 12 meses de bilhões de dólares. De acordo com a mesma revista, as perdas eram tão grandes que havia o perigo de que as agências regulatórias aprovassem um plano de fusão da UBS com o Swiss Bank Corp. Tais perdas são devidas a contratos de derivativos em Londres e Hong Kong.
A luta entre as autoridades reguladoras nos países desenvolvidos tem sido bastante intensa, nos últimos tempos. A preocupação como os derivativos concentra-se na possibilidade de os prejuízos se alastrarem pelo sistema financeiro, provocando quebras em cascata de bancos e corretoras. Como os riscos são transferidos indefinidamente entre os agentes financeiros, poderia acontecer aqui o chamado efeito dominó. Nos EEUU, existem duas facções reguladoras que lutam incessantemente: os prós e os contra os derivativos. Exemplo disto é a tentativa de proteger o mercado de balcão (over-the-counter - OTC) dos derivativos. Em maio de 98, a Comissão de Comércio de Commodities Futuras (Commodity Futures Trading Comission - CFTC) lançou um aviso sobre a necessidade de se fazer um estudo sobre o rápido crescimento do mercado de balcão dos derivativos. Esta sugestão inocente desencadeou uma torrente de protestos tanto dos grandes operadores de derivativos quanto das maiores agências reguladoras do mundo financeiro. A Reserva Federal, o Departamento do Tesouro, a CVM deles - a SEC, não somente foram contra a proposta da CFTC como mandaram uma carta conjunta ao Congresso americano pedindo que o mesmo emitisse uma legislação que proibisse qualquer análise e prognóstico da CFTC sobre o mercado de balcão de derivativos. Para ter certeza de que o Congresso levaria a sério a demanda, anexaram uma proposta de lei, prontamente introduzida como H.R. 4062, chamada de "Financial Derivatives Supervisory Improvement Act of 1998", pelo presidente do Comitê de Casa Bancária - Jim Leach, republicano de Iowa. Alan Greenspan, presidente do Fed, deixando claro, em depoimento perante uma subcomissão do Congresso, declarou-se contrário a qualquer regulamentação. Ele disse que isso poderia aumentar o risco do sistema financeiro americano como um todo.
O diretor de mercados globais do Chase - Dennis Oakley - depondo numa audiência perante o Comitê de Casa Bancária, em 17 de julho, disse "o Commodity Exchange Act requer que todos os contratos de commodities futuros sejam comercializados numa câmara de comércio, e que desde 1974, os produtos financeiros têm sido considerados commodities futuras, a menos que se torne exceções das Emendas do Tesouro. Se um produto é considerado como sendo um futuro e não é comercializado numa câmara de comércio, ele é nulo e vazio". O problema é, ele continua, "que alguns de nossos produtos de crescimento mais rápido, como os derivativos de ações e créditos, não estão cobertos por esta exceção". Em palavras mais pedestres, trilhões de derivativos vendidos pelos bancos são, de acordo com a lei norte-americana, nulos de pleno direito. Oakley ainda disse: "nós não temos meios de gerenciar este novo risco legal" e ainda ameaçou que se a ação do CFTC não fosse paralisada "o Chase seria forçado a mudar seu negócio para outra localidade, provavelmente Londres".
(continua)
Saudações
olhar atento*
IX - Os Globalizadores
A Rússia foi tragada pela crise financeira. A moratória russa começou a apavorar os grandes bancos internacionais, principalmente os alemães, suíços e norte-americanos. O G-7, o FMI, o Banco Mundial começam a propor soluções, até agora tímidas.
Crê-se, particularmente, que a crise financeira e monetária que engolfa o mundo começa nos países periféricos, alcança o sudeste asiático, o Japão, o México, a Rússia, a Argentina e, no futuro, o Brasil, a Polônia, a Turquia, para no final se introduzir no cerne do sistema: a City londrina e Wall Street. Alcançará o seu apogeu quando atingir o dólar e os grandes bancos internacionais.
Afinal, quem controla o fluxo do dinheiro? Dados do início de 1999 do Banco de Compensações Internacionais, o banco central dos bancos centrais com sede em Basiléia na Suíça, dão uma idéia dos principais centros bancários do mundo. O Reino Unido controla 1,637 trilhão de dólares, os EUA com 931,4 bilhões de dólares, o Japão com 697,7, a Alemanha com 628,5, a França com 627,9, Hong Kong 626,1, Cingapura com 475,2, Cayman com 461,4, Suíça com 404,4, Luxemburgo com 362,1, Bélgica com 283,1 e a Holanda 234,6.
Nota-se pelos dados que o Reino Unido é o grande controlador do fluxo financeiro ao contrário do que pensa o senso comum de que seriam os EEUU. Considerada toda a Comunidade britânica, o controle passa de 1.637,1 bilhões de USD para mais de 3.199,8 bilhões. Como a Holanda faz parte da geopolítica financeira da Inglaterra, o total pode ultrapassar 3,43 trilhões de dólares.
A economia internacional tem se transformado, nos últimos anos, num imenso Cassino Royale, onde o financeiro se descolou da economia física real numa espécie de imensa bolha financeira que suga as energias da economia física, sucateando tudo que encontra pela frente.
94,2% dos derivativos estão concentrados em sete bancos: JP Morgan Chase Bank ($36.8 trilhões de dólares); Bank of America ($14.8 trilhões); Citibank ($11,1 trilhões); Wachovia Bank ($2,3 trilhões); HSBC Bank USA ($1,3 trilhão); Bank One ($1,2 trilhão) e Bank of New York ($561,7 bilhões). O JP Morgan Chase sozinho representava 51,7%;, se se acrescentar o Bank of America ter-se-á 72,6%, mais o City aumenta para 88,3% e assim por diante.
Hoje, depois da quebra do Morgan, que só os círculos íntimos do poder tiveram conhecimento, Greenspan conseguiu criar um novo banco gigantesco: o J.P. Morgan Chase & Co, quando o aristocrático Morgan foi fundido com o plebeu Chase. Tais fatos têm se tornado relativamente comum nos últimos tempos de inquietações da bolha. O caso antecedente foi a compra do CityCorp [que era na época conhecido em Nova Iorque como City Corpse (cadáver)] pelo Travalers Insurance em 1989. Como parte do processo de fusão Morgan Chase, 125 bilhões de dólares em ativos e 7 trilhões em derivativos simplesmente se evaporaram do balanço, sugerindo maiores problemas no futuro. Apesar de tudo isso, restam ainda 24 trilhões de dólares em derivativos do novo mega-banco, soma que nenhum outro banco no mundo possui e mais do que suficiente para uma mega-explosão.
Há rumores de que o Citygroup já estaria sob controle do Fed por causa das perdas no seu montante de derivativos. O City é hoje o maior banco dos EEUU com 1 trilhão de ativos e 9 trilhões de derivativos. Quem deve tomar muito cuidado é o príncipe saudita Alwalleed bin Talal, o maior acionista individual do banco, ao dizer que investirá mais 500 milhões no banco, atingindo a cifra total de 10 bilhões. Alwaleed, um sobrinho do rei saudita Fahd, começou sua aventura no City logo após a intervenção do Fed em 89.
Após o desastre da Enron, dois bancos apareceram como seus maiores financiadores: o Morgan Chase e o Citygroup. De acordo com o Subcomitê Permanente de Investigações do Senado norte-americano, os dois bancos eram ativos participantes nas fraudes da Enron, usando filiais off-shore para ajudar a Enron a esconder seus empréstimos como comércio de energia.
Para se ter uma leve idéia da elevadíssima faixa de risco à qual estão expostos os bancos da maior potência do mundo, as relações apresentadas no quadro acima são por demais eloqüentes.
Esta explosão dos derivativos não está circunscrita somente aos Estados Unidos. Segundo dados do Banco Central alemão (Bundesbank) o nível de derivativos nos bancos alemães aumentou 54% durante 1997 passando de 16,8 trilhões de deutschmarks para 25,9 trilhões de DM, ou seja, de 9,3 trilhões de dólares para 14,4 trilhões, algo como 7 vezes o PIB alemão.
As grandes fusões de mega-bancos (Manufacturers Hanover-Chase-Chemical, Security Pacific-BankAmerica, First State-Wells Fargo, First Chicago-NBD, Citicorp-Travelers, UBS-Swiss Bank Corporation, JP Morgan- Chase Manhattan etc) que temos assistido de uns tempos para cá são um sintoma dos buracos financeiros que necessitam ser escondidos para que o câncer financeiro não fique muito exposto. Desnecessário dizer que os bancos comerciais estão também se transformando ou comprando bancos de investimentos ao arrepio da proibição da Lei dos Bancos, mais conhecida como Lei Glass-Steagall promulgada na época da Grande Depressão em 1933 que forçou a Casa de Morgan, de então, a se dividir no J.P. Morgan & Co., o banco comercial e o Morgan Stanley, o banco de investimento.
No Extremo Oriente, assiste-se à quebra do Banco de Crédito de Longo Prazo no Japão, devido a operações com derivativos.
A explosão da bolha financeira quase foi detonada pelo fracasso do fundo de hedge de um dos gigantes do mercado de futuros, debêntures e opções: dono de US$ 4,8 bilhões em ativos, tinha uma carteira de US$ 200 bilhões em ações e girava mais de US$ 1 trilhão em derivativos, curiosamente chamado de Long-Term Capital Management, um dos mais bem equipados fundos de arbitragem do mundo.
Convém salientar que esse fundo dos fundos, pois usava fundos emprestados, era controlado por homens notáveis formando uma parceria que seria o nec plus ultra do mercado financeiro. Seu líder era John Meriwether, que foi forçado a renunciar à vice-presidência do Solomon Brothers, com o resto da cúpula dirigente, por esconder a fraude da Solomons nas negociações dos títulos do Tesouro norte-americano em 1991. Encabeçando a investigação do Federal Reserve na fraude da Solomon estava David Mullins, um ex-professor da Harvard Business School que renunciara à vice-presidência do Fed em 1994 para se tornar um dos co-fundadores do Long-Term Capital. A diretoria do fundo de hedge estava adornada pela autoridade intelectual de Myron Scholes e Robert Merton, que compartilharam em 1997 o Prêmio Nobel de economia por seu trabalho sobre derivativos. Assim como os fundos de hedge estão livres da regulação do governo, o Long-Term Capital pode usar US$ 2, 2 bilhões em fundos dos investidores como garantia para comprar US$ 125 bilhões em ativos e alavancar estes papéis como novas garantias em transações exóticas no valor de US$ 1,25 trilhão!
A moratória russa, em agosto, derrubou os mercados globais de ações e os bilhões de papéis do LTCM aplicados em mercados emergentes. Resultado: a quebra foi inevitável em 23 de setembro daquele ano. Só para se ter idéia do tamanho do problema, à época os cinco maiores bancos americanos estavam alavancados em 14 vezes o seu patrimônio, enquanto os cinco maiores bancos de investimento tinham uma alavancagem de 27 para 1. No LTCM, a taxa era de 28 para 1.
Na época, para evitar um efeito cascata em todo o sistema financeiro, o Fed (BC dos EUA) ajudou a montar uma operação de aquisição do LTCM, no valor de US$ 3,6 bilhões, por 14 bancos e corretoras. O episódio mostrou o risco que o mercado corria se um fundo do tamanho do LTCM quebrasse. Mas também serviu para aperfeiçoar os mercados de derivativos: relatório do governo dos EUA alertou para "a necessidade de que todos os participantes do sistema financeiro, não só os hedge funds, tenham limitado o valor de alavancagem que podem assumir".
O estudo do economista do FMI explica que, na quebra do LTCM, o BC americano teve uma linha de atuação oposta à adotada pela autoridade monetária britânica na débâcle do Barings. Basicamente, duas razões levaram o Fed a coordenar um plano privado de resgate: o risco à estabilidade financei-ra criada pela inadimplência em contrapartes e o risco à estabilidade monetária criado pela grande turbulência no maior mercado global de crédito, que poderia interromper o fluxo de crédito para as empresas e afetar todo o setor produtivo.
Após colher lucros que excederam os 40% em 1995-96, o retorno caiu para 17% em 1997, com o início da crise asiática. À medida que as notícias pioravam em 1998, o capital do Long-Term Capital murchava de US$ 4, 8 bilhões em janeiro para US$ 2, 3 bilhões após o calote da Rússia em agosto, e para US$ 200 milhões, um pouco antes do pacote de auxílio financeiro do FMI de fins de setembro. Os riscos se tornaram claros após o calote da Rússia e o colapso do Long-Term Capital. O Union Bank of Switzerland, o maior banco da Europa, declarou uma perda de US$ 684 milhões em sua fatia de 15% no fundo, o que se somou às outras perdas de grandes empresas desde a moratória da Rússia: Credit Suisse First Boston (US$ 400 milhões; Solomon Smith Barney, Nomura Securities, Bankers Trust and Bank America (aproximadamente US$ 350 milhões cada), e Merril Lynch (US$ 135 milhões). Outros grandes perdedores foram o Deutsche Bank, o Dresdner Bank, o JP Morgan, o Barclays e o Banco da Áustria. Curiosamente nessa corrente de más notícias, estava o fato de que o Banco Central da Itália havia investido US$ 250 milhões no Long Term Capital antes que o fundo acumulasse numa posição de US$ 49 bilhões em títulos do governo italiano. "Virão coisas piores", afirmou um analista da Solomon Smith Barney em Londres. "Nós veremos uma razoável quantidade estável de anúncios, de avisos e problemas nos próximos trimestres".
Para contornar a quebra, pressionados pelo Federal Reserve Bank of New York, 15 bancos, tendo emprestado US$ 100 bilhões ao fundo, colocaram outros US$ 3, 6 bilhões no Long-Term Capital para evitar mais pânico.
Segundo, ainda, o editorial do Estado de S. Paulo de 26/09/98 "a operação (de salvamento) foi coordenada pelo ramo nova-iorquino do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, que, como guardião do sistema financeiro dos EUA, não conseguiu farejar nada. O desastre aconteceu no maior centro financeiro do mundo, diante do nariz dos maiores especialistas e dos mais influentes avaliadores de risco. Os analistas com poder suficiente para transformar um país ou continente na bola da vez, como se tivessem o direito de jogar com o destino de dezenas ou centenas de milhões de pessoas, falharam, mais uma vez, miseravelmente, quando o perigo estava ao seu lado. Também isto é parte da lição. Haverá humildade suficiente para entendê-la e extrair suas conseqüências?".
Pelo exposto, fica agora claro que a crise não vem do Oriente, da Rússia ou do Brasil somente, pois o sistema financeiro e monetário como um todo está entrando em colapso por causa da metástase dos derivativos e da falta de mecanismos e políticas internacionais para solucionar o problema. Nenhuma instituição consegue mais controlar o fluxo financeiro dos capitais internacionais que desestabilizam nações e continentes numa escala global. Já é hora de pensarmos em um novo Bretton Woods, fato que implica na substituição do atual FMI e órgãos congêneres, para estancar a sangria financeira, pois as políticas do FMI têm sido uma espécie de balde de gasolina na fogueira que começa a se alastrar em escala mundial. Em setembro de 2001, a crise já estava atingindo o seu ponto de ebulição - pensava-se até mesmo substituir Alan Greenspan na presidência do Federal Reserve pelo senador Sun Nunn do Texas - quando o sistema foi salvo pelo atentando terrorista ao World Trade Center e ao Pentágono. Injetou-se mais de 100 bilhões de dólares na combalida economia dos EEUU e reativou-se a indústria armamentista a toque de caixa.
Agora fica um pouco mais claro por que a bolsa de Conceição de Mato Dentro oscila e causa repercussões em Wall Street. São Paulo e Rio de Janeiro estão aplicando maciçamente em dólares mas quando o mesmo começar a cair o pânico tenderá a se espraiar. Os grandes conglomerados financeiros internacionais estão comprando ouro desde há algum tempo, bem devagar, para que o mesmo não suba muito. A relíquia bárbara (o ouro) tenderá a ser o único ativo para fazer frente aos novos tempos.
Nos primeiros dias de agosto de 2002, o índice Dow Jones atingiu 505 do seu pico de 2000. O Dow está voltando aos níveis de 1997/98, mas nessa meia década aumentando muito o endividamento, a alavancagem e a especulação. Assiste-se, no momento, ao mesmo motto ouvido antes da crise de 29 quando o Presidente Hoover dizia que: "A economia está fundamentalmente sólida".
A quebra da Enron e da WorldCom apresentam-se como o prenúncio de novas surpresas nas áreas de energia, telecomunicações e bancos.
Em anos recentes o Dow Jones mudou muito a sua configuração de empresas, deixando de lado os gigantes industriais das décadas anteriores; hoje o índice é composto de gigantes atolados de derivativos tais como: J. P. Morgan Chase, Citigroup, American Express, Microsoft, Intel, IBM, HP, Walt Disney, Wal-Mart, McDonald´s etc. Mesmo firmas que eram gigantes industriais no passado, como por exemplo a General Eletric, 'fabricam' metade de seus lucros em largas operações financeiras, incluindo-se ai imensas aplicações em derivativos.
A estratégia de Allan Greenspan tem sido, desde a crise dos Tigres Asiáticos, a de criar uma Muralha de Dinheiro para fazer frente à crise nos EEUU. No início de 97, o diretor de fundos britânicos Tony Dye acenou com iminente desastre no mercado global de derivativos, coincidente com os problemas do então Banco National Westminster. No mercado de balcão dos derivativos, são relativamente fáceis os gigantescos desastres de derivativos escondidos, visto que tudo é resolvido interna corporis no Fed.
Durante a crise dos derivativos de 1997, a bóia de salvação foi a 'crise asiática', ou seja, um ataque às moedas das economias dos tigres asiáticos pelos interesses financeiros Anglo-Americanos. De forma típica, que seria seguida daí por diante, os banqueiros estavam tentando adiar a sua quebradeira drenando recursos da Ásia. Este assalto continuou em 1998, alvejando um Tigre após o outro, gerando bilhões de dólares em saques e enviando os fundos desesperados para o relativamente seguro mercado da City e de Wall Street. O resultado pode ser visto pelo crescimento do mercado de ações durante o período.
O jogo sofreu uma abrupta parada em setembro de 1998, quando a bola da vez - a Rússia - pegou os mercados desprevenidos ao declarar a moratória com os títulos GKO e a desvalorização do rublo. A audácia da Rússia de declarar uma moratória, totalmente fora das regras de boa educação do mercado internacional, deixou o mercado financeiro em pânico, com investidores fugindo dos papéis financeiros especulativos e buscando os títulos mais seguros dos EEUU e da Alemanha. O fundo de hedge Long-Term and Capital Management, que contava com dois gênios matemáticos vencedores do Prêmio Nobel de Economia, foi tomado de surpresa e quebrou. Não houve maiores conseqüências, pois Greenspan montou uma operação de guerra no Fed para salvar o mercado com o que George Soros chamou de 'muralha de dinheiro'.
Foi esta 'muralha de dinheiro', combinada com uma maciça injeção de liquidez sobre o disfarce do potencial perigo do bug do milênio que salvou o mercado até o final de 1998, quando estourou nova crise, postergada até os primórdios de 2000. Estes saltos tipo canguru - início de débâcle com ulterior postergamento - está se tornando cada vez mais estreito. O atentado terrorista de 11 de setembro foi um alavancador do adiamento da crise. Será que a invasão do Iraque será o próximo?
Os recentes atentados terroristas nos EEUU devem ser entendidos dentro desse contexto de crise financeira.
(continua)
Olhar atento*
O Novo Papel dos Estados Nacionais em Época de Globalização Crescente
Foi elaborado por William Almeida de Carvalho - membro do Instituto Histórico e Geográfico do DF e da Academia de Letras de Brasília, ex-Secretário de Estado do Distrito Federal, ex-membro do Gabinete Civil da Presidência da República, sociólogo e pós-graduado em Administração Pública e doutorando em Ciência Política e apresentado no XXXI Seminario Internacional de Presupuesto Público
San José, Costa Rica, 14 a 18 de Junho de 2004
XI - CONCLUSÃO
O presente trabalho buscou não só bosquejar a crise dos Estados Nacionais numa época de globalização como também desenhar a importância da bolha financeira que atualmente envolve o mundo inteiro.
A explosão/implosão da bolha financeira que poderá se dar daqui a alguns meses ou daqui a dois ou três anos é somente uma questão de tempo. O perigo não está no processo de globalização de per si, mas sim na distorção de seus aspectos econômicos e financeiros.
Existe, atualmente, no mundo três principais zonas econômicas e de moeda. Pelo fato de que elas estão geralmente concentradas em regiões econômico-geográficas é-se tentado a pensar em termos de Sudeste Asiático-EEUU-Europa. Contudo, para se obter uma verdadeira fotografia global é mais acurado caracterizar as zonas de modo mais funcional do que regional. O marco funcional conterá então: i) uma região de conta comércio dinâmica - Ásia; ii) um país central - os EEUU e iii) uma região de conta capital - Europa, Canadá, Austrália e Ibero-América. Como uma região de conta comércio, exportar para os EEUU é o principal objetivo do sudeste asiático. Exportar significa crescimento. Quando suas importações decaem, o setor oficial fica feliz em comprar títulos do governo americano para financiar a queda diretamente sem levar em conta as características do retorno e do risco dos títulos.
A Ásia aprendeu a lição estabelecendo controle de capitais e de câmbio. Como se viu acima, a Ásia escolheu a mesma estratégia da periferia então usada no pós-guerra pela Europa e pelo Japão: desvalorizou a taxa de câmbio, gerenciando enormes intervenções no câmbio externo, impondo controles, acumulando reservas e encorajando um crescimento liderado pelas exportações de mercadorias que enviava aos países centrais competidores. Os investidores oficiais desse grupo ajudam a financiar o déficit em conta corrente dos EEUU em mais de 1,2 trilhão de dólares em 2003.
Das Perspectivas da Economia Mundial do FMI (abril de 2004) ilustra as enormes reservas, principalmente as chinesas, dos países do sudeste asiático, em que boa parte delas estão suportando o déficit norte-americano:
A China acumulou reservas de 409 bilhões de dólares em 2003, espera-se 547 nesse ano de 2004 e projeta-se 600 bilhões de dólares para 2005.
A outra região funcional - a da conta capital - é representada pela Europa, Canadá, Austrália e boa parte da Ibero-América. Os investidores privados dessas regiões preocupam-se com o risco e o retorno de sua posição de investimento internacional e recentemente estão levando em conta e preocupados com a exposição da fragilidade dos EEUU no seu duplo déficit de conta corrente e comercial:
O déficit em conta corrente, algo em torno de 500 bilhões de dólares ou cerca de 5% do PNB, tem sido financiado pelos fluxos oficiais da região da conta comercial dos asiáticos e pelos fundos privados dos países da conta capital da Europa, Canadá, Austrália e da Ibero-América.
Nas suas políticas de moeda, os membros da região da conta capital defendem câmbio flutuante. A Europa e o Canadá, por exemplo, flutuam confortavelmente contra o dólar visto que o euro oscilou em 30% contra o dólar desde a sua introdução. Seus governos ficaram fora do mercado internacional de capitais: não houve mudanças substanciais nas reservas oficiais na conta capital desse setor da região nas últimas décadas.
A terceira e última região - os EEUU - é o país central e intermediário do sistema. Não tenta gerenciar a taxa de câmbio. Como não acumula reservas oficiais, suas motivações de investimento levam-no para o pólo da conta capital. Por outro lado, sua motivação de crescimento empurra-o para a conta comércio. Ele necessita de aporte financeiro para seu próprio crescimento e as poupanças externas ajudam a financiar sua formação doméstica de capital. As queixas da indústria americana sobre o dólar fortalecido são menosprezadas, mas acima de tudo os EEUU continuam felizes por investir agora, consumir agora e deixar as preocupações sobre sua deteriorada posição de investimento para terceiros.
A economia norte-americana, que concentra 25% do mercado global, está numa trajetória insustentável. O déficit fiscal do Tesouro dos EEUU deve ultrapassar os 5% do PNB nesse ano. O déficit em conta-corrente deve também superar os 5% nesse ano. Qualquer outro país do mundo já teria a sua cabeça posta no pelourinho aos gritos de: "Chamem o FMI". O problema de Bush não é só o de escapar do pelourinho, mas fazer a economia crescer em um ano eleitoral de forma a ser capaz de gerar empregos e votos. Só que o próprio crescimento da economia americana gera o aumento das exportações, dada a transferência, ao longo das duas últimas décadas, de parte da indústria, notadamente para a Ásia. Os EEUU estão se tornando, já algum tempo, uma economia menos manufatureira, menos industrial, pois o hardware vem de fora, até por um problema de custo.
A soma dos déficits gêmeos, como visto acima, o que não se observava desde a administração Reagan, caminha para a marca quase inimaginável de US$ 1 trilhão. Os EEUU estão tomando emprestado US$ 1,5 bilhão por dia.
Ter déficit em conta-corrente significa consumir mais bens e serviços do que a renda disponível no país permitiria. Assim, manter o déficit em conta-corrente corresponde a captar poupança externa para financiá-lo. Logo, parte essencial do debate atual é, em resumo, até que ponto a economia mundial está disposta a financiar o consumo excessivo dos americanos e a que preço. Sabendo-se que o preço do dinheiro é a taxa de juros.
A pergunta que se faz hoje em dia é a seguinte: por que os governos do sudeste asiático correm o risco de aplicar seus superávits em títulos do Tesouro norte-americano? A resposta é singela, pois eles querem evitar o colapso do dólar. Temem um colapso por diversas razões. Uma delas é que poderia gerar pressões adicionais deflacionárias, particularmente importantes no caso do Japão e da China. Outra, também relevante, seria o abalo de sua competitividade exportadora com a desorganização do sistema. Finalmente, poderia haver a tão temida redução de seus superávits em conta corrente ou até mesmo geração de imensos déficits, tornando-os vulneráveis a uma compulsória crise financeira.
Alguns analistas têm afirmado que a reciclagem da moeda estrangeira despejada na região cria uma certeza, uma probabilidade e um risco. A certeza é que esses países perdem um montante apreciável de dinheiro, haja vista que o custo do capital ingressado no país excede substancialmente o retorno das reservas em moedas estrangeiras. A probabilidade é que eles perderão ainda mais quando o dólar se desvalorizar: por exemplo, se houver uma queda de 25% do dólar, as perdas agregadas das moedas asiáticas podem exceder US$ 500 bilhões. O risco é o de que esse aumento descomunal da base monetária poderá gerar - e na verdade está gerando - bolhas de preços destrutivas e, no final das contas, inflação.
Não faz sentido para uma região com esse imenso superávit em conta corrente e colossais reservas em moeda estrangeira tentar desesperadamen-te evitar uma crise financeira internacional. Os EEUU começam a sentir-se também extremamente vulneráveis. Os analistas internacionais têm apontado que um modo de reduzir a vulnerabilidade da região seria a de se criar um imenso Fundo Monetário Asiático. Armado com essa nova garantia internacional/regional, os países asiáticos poderiam oscilar suas taxas de câmbio, gerar maiores demandas internas e então administrar déficits em conta-corrente. A pergunta que se faz aqui é a seguinte: se os asiáticos querem aplicar dinheiro de maneira mais generosa, porque não fazê-lo em benefício de seu próprio povo ao invés de financiar os norte-americanos?
Alguns tímidos passos tem sido dados nessa direção através da iniciativa Chiang Mai, acordada em maio de 2000, que criou um arranjo para swaps bilaterais no valor de 40 bilhões de dólares. Isso é muito pouco. A região tem um potencial para criar, no mínimo, um fundo 10 vezes maior que poderia, ainda assim, absorver somente um quinto das reservas de moedas da região.
O FMI de hoje possui somente reservas totais no valor de 316 bilhões de dólares, muito pouco para fazer frente aos países do sudeste asiático. Esse fundo asiático poderia apressar a reforma do FMI, pois é inadmissível que a Bélgica com parcas reservas possua mais cotas do que a Índia. Além do mais forçaria os EEUU a tomar uma decisão para tentar evitar uma crise do dólar colocando ordem macroeconômica na sua casa. Ainda se tem um pouco de tempo antes da débâcle do dólar e da bolha financeira, e somente uma instituição no mundo tem condições de liderar e implantar um novo Bretton Woods: a Presidência dos Estados Unidos da América. Esse novo Bretton Woods teria que propor um retorno a um sistema de taxas fixas de câmbio lastreado mais em moedas de uma "cesta de commodities" do que no ouro, como um meio de basear o valor das moedas em relação à economia real ao invés de ligar esta a entidades especulativas.
Os próximos anos do século XXI mostrarão o tremendo desafio que nos reserva o futuro. Quem viver, verá.
FIM
Nota: não acrescento nada à sua última frase.
Saudações
Olhar atento* militante de esquerda
Enviar um comentário